O Orçamento em Porugal
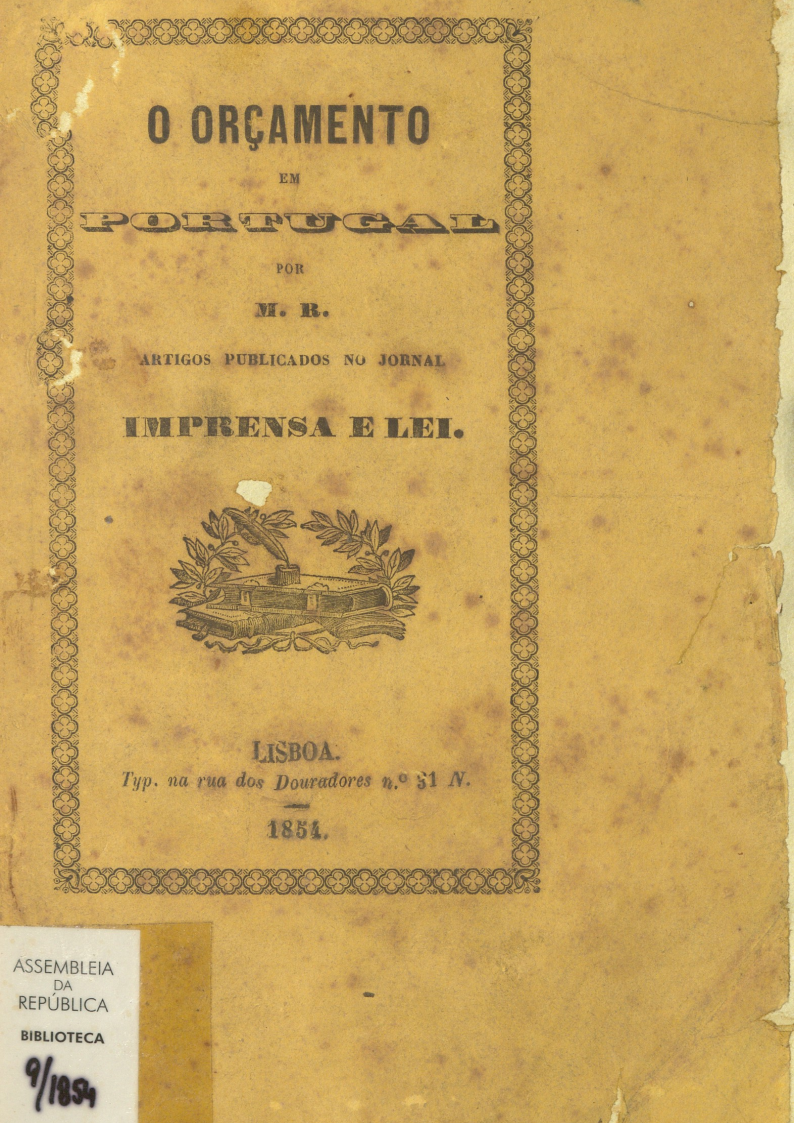
Neste artigo mostra-se como Carlos Morato Roma, na sua obra
O orçamento em Portugal: artigos publicados no jornal Imprensa e Lei, pretende explicar e também problematizar aquele que é, ainda hoje, o ato legislativo do Governo mais impactante no quotidiano da população.
«O que é o Orçamento em Portugal? Como se faz? Como se discute? Como se executa? Como se fiscaliza?»: É com estas questões que Carlos Morato Roma, faz a abertura de
O orçamento em Portugal: artigos publicados no jornal Imprensa e Lei.
Na sua essência, o Orçamento é um instrumento de gestão, com uma previsão discriminada das receitas e despesas do Estado. No que concerne ao atual aspeto processual – Proposta de Lei de iniciativa do Governo, apresentada, discutida e aprovada no Parlamento –, o mesmo estava já consagrado, nas suas linhas gerais, na Constituição Liberal de 1822: «O Secretário dos negócios da fazenda, havendo recebido dos outros Secretários os orçamentos relativos às despesas de suas repartições, apresentará todos os anos às Cortes, logo que estiverem reunidas, um orçamento geral de todas as despesas públicas do ano futuro; outro da importância de todas as contribuições e rendas públicas; e a conta da receita e despesa do tesouro público do ano antecedente»( art. 227.º). Em paralelo, consagra a competência de fiscalização nesta matéria ao Parlamento, ao definir, entre as atribuições das Cortes, «fiscalizar o emprego das rendas públicas e as contas da sua receita e despesa» (art. 103.º, IX).
Para Carlos Morato Roma, a preparação anual do Orçamento deveria ser mais do que um mero exercício contabilístico. Voltemos às palavras do autor no texto de introdução: «Apresentou-se às Cortes o orçamento para o futuro ano económico, organizado segundo o antigo costume; e o mesmo se seguirá, naturalmente, quanto à discussão, execução e fiscalização. Tudo caminha; tudo corre; e nós ficamos sempre no mesmo círculo vicioso! Sucedem-se rapidamente os fenómenos políticos, económicos e financeiros; e, em vez de os apreciarmos como cumpre, quando constituímos o rendimento do Estado e regulamos a sua aplicação, continuamos como se nada víramos! […] O orçamento ou budget de um estado é a enumeração dos seus rendimentos e das suas despesas, para um determinado ano. Deve, porém, proceder-se mecanicamente nesta enumeração? Nada há mais que fazer, quando se trata de organizar o orçamento, senão relacionar as verbas do rendimento e da despesa, à vista do que se fizera nos anos anteriores, e segundo as leis vigentes? […] Na ocasião de confecionar e discutir o orçamento, é mister estudar profundamente o melhor modo de constituir o rendimento do estado e determinar a sua aplicação. Em virtude deste exame, o governo deve conhecer que alterações será necessário fazer no rendimento e na despesa pública; não alterações que tenham unicamente por objeto melhorar este ou aquele ramo da receita, aumentar ou diminuir algum capítulo da despesa; mas alterações essenciais no organismo do rendimento e nos serviços a que ele é destinado». Por outras palavras, o autor parece querer despertar as consciências para um outro nível de aplicação do Orçamento: o de refletir e de se colocar ao serviço de uma opção estratégica para o desenvolvimento do País.
Foi com esse intuito que o autor se aventurou na redação destas «reflexões, filhas da meditação e da experiência». À boa maneira oitocentista, antes de serem vertidas na edição que apresentamos, foram publicadas, na forma de artigos continuados, na imprensa periódica. Em concreto, no jornal lisboeta Imprensa e Lei, bissemanal, que tinha como diretor o escritor, jornalista, diplomata e político José da Silva Mendes Leal Júnior. Também à boa maneira oitocentista, o autor destaca o altruísmo da iniciativa, ao apresentar o seu texto «despido de ambição e de vaidade, e impelido pelo amor ao meu país». E fá-lo também com a habitual modéstia (falsa, diríamos): «Longe de mim a presunção de ensinar o caminho que se deve seguir. Conheço que os meus escassos talentos e a minha posição, apenas me permitem fazer algumas observações sobre tão grave assunto».
Importa saber, neste ponto, que o autor deste estudo, Carlos Morato Roma (1798-1862), foi um reputado especialista financeiro, que personalizava a fusão dos universos político e financeiro: foi eleito Deputado em 1836, eleição que repetiu em 1838, 1840, 1842, 1846 e 1848, e também acionista e diretor de todas as companhias financeiras constituídas como resposta à frágil situação financeira do País, entre 1838 e 1846, e posteriormente diretor da Caixa Económica de Lisboa e acionista e diretor do Banco de Portugal, pelo que o seu percurso pessoal, académico e profissional
[1] o habilitou a refletir sobre tema tão complexo.
Carlos Morato Roma foi partilhando o seu conhecimento, acumulado durante uma vida dedicada à finança, não só em colaborações nos jornais, como através de livros que publicou, nomeadamente
Opiniões do Deputado Roma sobre as Finanças de Portugal (1841);
Discursos sobre as contribuições directas de repartição (1846);
Orçamento em Portugal (1854);
Reflexões sobre a Questão Financeira (1856);
A Questão da Moeda (1861).
Quanto à obra em destaque, O orçamento em Portugal: artigos publicados no jornal Imprensa e Lei, foi escrita em 1853 e tinha como pano de fundo uma estrutura governativa e burocrática que refletia a evolução da tutela dos assuntos financeiros, numa tentativa de aproximação à ideia fundadora enunciada na Constituição de 1822: um orçamento do Estado apresentado pelo Governo, aprovado no Parlamento, e contas públicas sujeitas a uma fiscalização parlamentar e jurisdicional
[2] .
Detenhamo-nos então no pensamento financeiro do autor, expresso no seu livro.
O ponto crítico, que dá o mote ao encadeamento lógico que estrutura o volume, afigura-se ser a subordinação do Orçamento à despesa do Estado. Para o autor, existe uma clara consciência de que o progresso de um País (no caso, Portugal) e a consequente melhoria do estado económico, financeiro, mas também social, passível de o colocar a par das «nações avançadas», decorre decisivamente de um investimento estratégico (maioritariamente do Estado) em áreas chave: desde logo, a educação, tendente à elevação das competências da população, com tradução direta na capacidade produtiva; depois, as comunicações (sobretudo viárias), garante de uma coesão territorial via quebra do isolamento das populações e facilitação da circulação de mercadorias, com a consequente expansão dos mercados. Parece-lhe, assim, «que sendo reconhecido que em Portugal estas duas condições essenciais da prosperidade, não podem alcançar-se senão pelo concurso geral da nação, é consequência necessária que entre na bolsa publica uma parte do rendimento nacional, para ser aplicada aos dois grandes e importantes serviços – instrução e viação».
Desta priorização do investimento público em áreas concretas, entende o autor que «não é forçoso começar o estudo e a discussão do orçamento pela despesa. Não é preciso fixar primeiro a sua importância indispensável, para se organizar um rendimento correspondente». Até porque existem capítulos da despesa que, por natureza, são ilimitados na sua capacidade de absorver recursos. Assim, «do rendimento é que se deve partir para a despesa. Conhecido o rendimento que poderá haver, sem dano da produção, deve-se tratar de o distribuir pelos diferentes serviços».
Daí, parte para uma revisão atenta e informada do Orçamento apresentado às Cortes para o ano de 1854, com críticas que visam principalmente a ação do Ministro da Fazenda (à data, Fontes Pereira de Melo). Começa pela irrelevância do seu relatório prévio – «papel que não podia ser mais insignificante» –, e avança, ponto por ponto, para uma desconstrução demolidora, quer das opções de fundo, quer das formas de cálculo do rendimento e da despesa do Estado, passando por denúncias abertas de pouco rigor ou transparência na construção do documento.
Nem a abordagem é de aproximação, nem o autor considera estar perante uma conjuntura propícia a que as suas ideias tenham acolhimento, e é com um tom de desânimo que encerra o volume: «De que serve, porém, estar insistindo nestas considerações? Que aproveitará tudo quanto escrevi? Por mais que resista, é impossível deixar de cair na desanimação. […] Se ficarem vãos os meus esforços e todos quantos possam fazer-se por levantar o espírito público: se for impossível provocar a reação – da atividade contra a indolência, do saber contra a ignorância, da economia contra o desperdício, o pundonor contra o cinismo: se esta paralisia continuar, repetirei o que já disse – o país tem o que merece».
João Oliveira
Nota bibliográfica: ROMA, Carlos Morato –
O orçamento em Portugal: artigos publicados no jornal Imprensa e Lei. Lisboa: Typ. na Rua dos Douradores, 1854. 265 p. cota: 9/1854.
[1] Carlos Morato Roma nasceu em Lisboa, em 1798. Viria a falecer na mesma cidade, em 1862. A família Morato Roma conhecia notoriedade há pelo menos duas gerações: na figura do seu avô, Francisco, reputado médico, e do seu pai, Ascêncio, formado na Real Academia de Marinha, professor de matemática, diretor da Aula de Comércio de Lisboa, e membro da ascendente burguesia de função do Portugal oitocentista, através da posse vitalícia de um cargo na burocracia estatal.
O percurso escolar de Carlos teve um início precoce, na Aula do Comércio, onde se formou com 15 anos, para ingressar na Contadoria do Hospital de São José, onde chegou ao posto de contador, e de onde transitou para um cargo no Ministério da Fazenda. É por esses anos que começa a revelar alguma vontade de participação política e cívica, ingressando na Sociedade Literária Patriótica e iniciando-se no jornalismo, um mundo no qual se moveu por longos anos, colaborando em títulos como O Português, o Jornal do Comércio, o Diário dos Pobres, o Velho Liberal do Douro ou o boletim Belém e Câmbios.
A sua carreira e consagração profissional, entretanto, progredia. Em 1833 foi nomeado diretor da Contadoria do Tesouro Público, onde organizou as bases da Administração Geral da Fazenda Pública. Em 1836, foi nomeado presidente da Comissão Fiscal Liquidatária.
O primeiro percalço nesta carreira fulgurante aconteceu com o triunfo da Revolução de Setembro de 1836. Cartista convicto, a sua comissão no Tesouro Público não resistiu à tomada do poder pelos setembristas, a corrente mais à esquerda do movimento liberal, autoproclamada herdeira dos princípios originais do vintismo, sendo afastado pelo governo de Sá da Bandeira. Um percalço que Morato Roma soube aproveitar como uma oportunidade.
No ano anterior, para acorrer às necessidades financeiras do Estado, foram colocadas em hasta pública extensas propriedades das casas do Infantado, das Rainhas, da Patriarcal e da Coroa, num total de 48 mil hectares. Foi aceite a proposta de 2 mil contos de réis, feita por um grupo de empresários e proprietários (Conde de Farrobo, Visconde das Picoas, José Bento de Araújo, José Xavier Mouzinho da Silveira e José Pereira Palha), e que daria origem à Companhia das Lezírias do Tejo e Sado. Será esta o novo empregador de Carlos Morato Roma e a sua porta de entrada no mundo financeiro: entre 1838 e 1846, foi acionista e diretor de todas as companhias financeiras constituídas como resposta à frágil situação financeira do País (Companhia Confiança, Crédito Nacional, Companhia União, Companhia Auxiliar, Sociedade Brandão, Sampaio, Freitas & Roma).
Na segunda metade da década de 1840, vamos vê-lo envolvido no Contrato dos Tabacos, fundador da Companhia das Obras Públicas, diretor da Caixa Económica de Lisboa, grande acionista (e, por um período breve, diretor) do Banco de Portugal. Sopravam, entretanto, novos ventos políticos, e consta que Carlos Morato Roma gozava de notável capacidade de influência junto do Duque de Saldanha, nomeado Presidente do Conselho de Ministros em 6 de outubro de 1846.
A imersão no mundo dos negócios não o inibiu de manter, em paralelo, uma participação ativa na política nacional, tendo sido eleito deputado, pela primeira vez, em 1836, para a legislatura abortada pela Revolução de Setembro. Repetiu a eleição em 1838, 1840 (por Leiria), 1842 (pela Província do Minho), 1846 (pela Província da Estremadura) e 1848. Aliás, Morato Roma personalizava a fusão dos dois universos, espelhada não só nas Comissões que integrou (Fazenda, Comércio e Artes em 1839, Agricultura e Orçamento em 1843), como no teor das suas numerosas intervenções, onde pontuam «aquelas em que defendeu as diversas corporações a que esteve ligado, corno, por exemplo, a Companhia das Lezírias (1839) e a Companhia Confiança (1839)», que foram sedimentando o seu prestígio como grande especialista financeiro, e que culminou com a sua entrada, em 1855, para a Academia das Ciências.
[2] Em 1832, pelo Decreto n.º 22, de 16 de maio, a reforma de Mouzinho da Silveira havia extinguido o Tesouro Real (ou Erário Régio), reorganizando a Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda, criando o Tribunal do Tesouro Público e a figura dos Recebedores-Gerais, com funções de Contabilidade Pública (Decreto n.º 22, de 16 de maio). Em 1834, Silva Carvalho procede à reorganização desta Secretaria de Estado, criando a Contadoria Geral do Tribunal do Tesouro Público, para as receitas e despesas e superintendência na sua contabilização. Outra novidade foi a «instalação de uma repartição de contabilidade, com pessoal próprio da Secretaria de Estado da Fazenda, que superintende na administração financeira exercida pelas repartições de contabilidade das diversas secretarias de Estado, dotadas de pessoal organicamente dependente do departamento ministerial a que pertencem, mas cuja dependência funcional da repartição da Contadoria Geral da Secretaria de Estado da Fazenda se vai acentuando, e que superintende também na contabilidade do Tesouro e nas operações de liquidação da dívida pública». Após ter sido extinto por Silva Passos, em 1836, o Tribunal do Tesouro Público ressurge em 1842, por Decreto de 9 de março, dotado de uma repartição de contabilidade a quem compete «a coordenação da elaboração dos orçamentos e contas a apresentar às câmaras legislativas, a administração, arrecadação e contabilidade da fazenda pública e a proposta de medidas de reforma e economia para o melhoramento destes serviços e a fiscalização e inspeção dos livros de arrecadação da fazenda». Finalmente, em 1849, a Carta de Lei de 9 de julho e o Decreto de 10 de novembro, de Costa Cabral, introduzem nova reorganização da Secretaria de Estado, que passa a assumir a designação de Ministério da Fazenda (atual Ministério das Finanças) e, a par, sedimenta-se a Direção-Geral da Contabilidade (atual Direção-Geral do Orçamento), criando-se no mesmo ano o Tribunal de Contas.