Peço às autoridades para fazerem o favor de abrir as Galerias para quem quiser assistir aos nossos trabalhos
No dia 27 de abril de 1974, o dia 1.º de maio, “Dia do Trabalhador”, foi instituído como feriado nacional obrigatório pela Junta de Salvação Nacional
1, naquela que foi uma das suas primeiras medidas, depois de destituir das funções de Presidente da República, o almirante Américo Tomás, de exonerar o Presidente do Conselho, Marcelo Caetano, e de amnistiar os crimes políticos.
A 2 de maio, o Diário de Lisboa assinala a grandeza da manifestação da véspera:
“Aspeto imponente, ainda que parcial, da multidão ontem reunida no Estádio 1.º de Maio, ex-FNAT, para comemorar livremente, pela primeira vez há quase cinquenta anos, o "Dia do Trabalhador"”.
A RTP fala no cortejo de um milhão de pessoas.
Apesar de só então ser instituído como feriado, o dia 1.º de Maio já era comemorado em Portugal desde 1890, quatro anos depois dos acontecimentos ocorridos em Chicago 2, nos Estados Unidos da América, e que estiveram na origem da declaração em 1889, pelo Congresso Operário Internacional, do 1.º de Maio como Dia Internacional dos Trabalhadores.
As manifestações realizadas em 1890 têm repercussões nos debates e trabalhos parlamentares. Assim, na Câmara dos Senhores Deputados da Nação Portuguesa, a 5 de maio desse ano, o Deputado Fuschini intervém, destacando a importância do projeto de lei que antes apresentara, de regulação do trabalho dos menores e das mulheres na indústria:
“Acabámos de assistir à primeira manifestação geral das classes operárias, importantíssima sem dúvida, sob todos os aspetos, principalmente como claro sintoma de vida nova e de um plano inteligente e científico nas massas proletárias. Os pedidos que as classes operárias fazem são todos justos e muitos imediatamente exequíveis.
Não oculto que alguns, como a fixação, do dia normal, envolvem dificuldades de execução, mais, ou, menos importantes, e até perigos para os interesses dos próprios operários; outros, porém, são incontestavelmente oportunos, direi mais já de há muito deviam ter sido previstos e satisfeitos.”
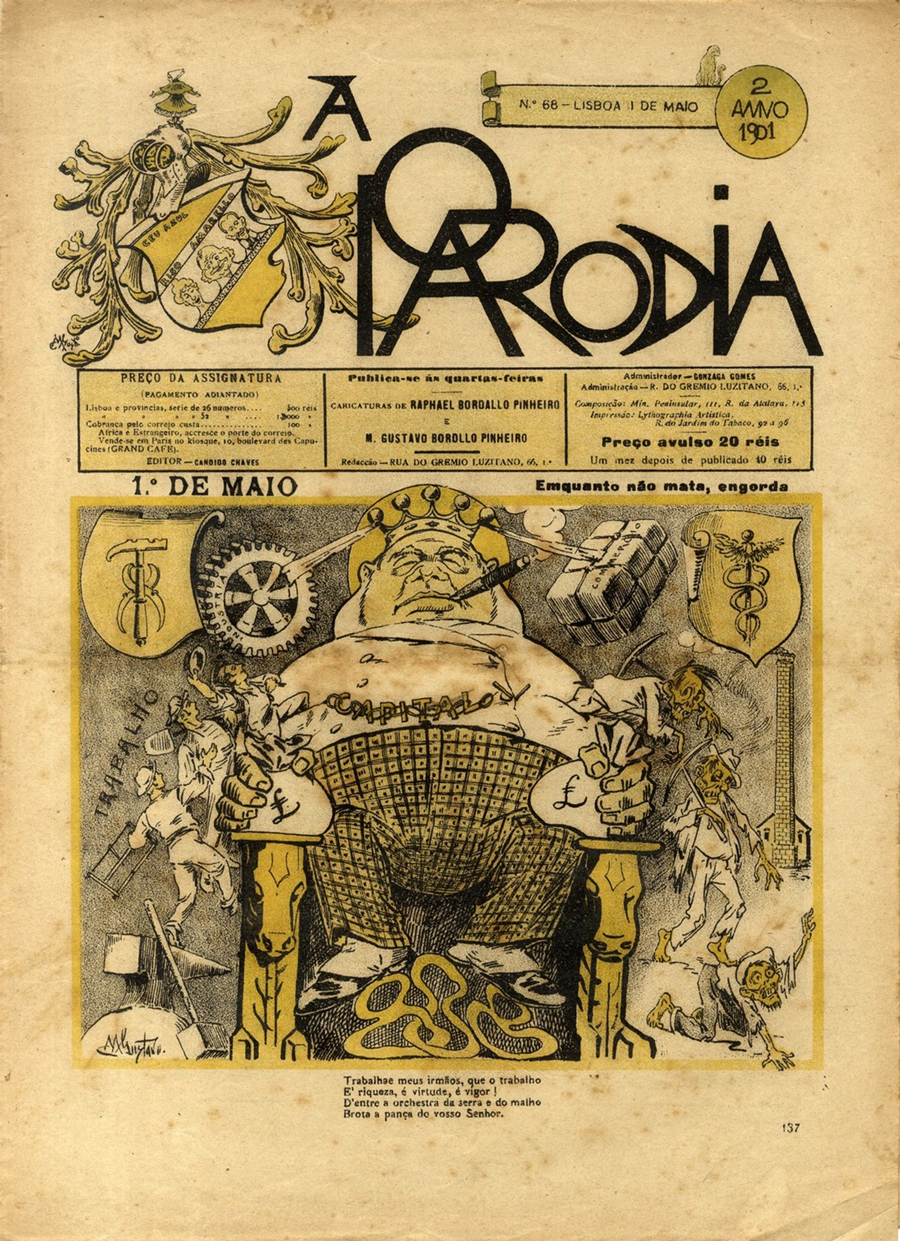
A Paródia, 1 de maio de 1901, Hemeroteca Municipal de Lisboa (HML).
O projeto de lei em causa encontrava-se pendente há mais de sete anos
3 .
Anos mais tarde, a 1 de maio de 1900, na Câmara dos Deputados, o Presidente informa que o Deputado Afonso Costa tinha pedido a palavra para “um negócio urgente, declarando depois à mesa que esse negócio consiste nalgumas considerações que deseja fazer com respeito à festa que hoje realizam os operários e propor que se levante a sessão em sinal de assentimento à mesma festa.” O Presidente não considera o assunto urgente e consulta a Câmara, que tem o mesmo entendimento.
Há referência a manifestações comemorativas do Dia do Trabalhador nos anos seguintes, mesmo depois de instaurada a República, que são mencionadas e saudadas pelos eleitos, como aconteceu em 1916, quando o Deputado José António da Costa Júnior apresenta uma proposta em que considera o “operariado do mundo inteiro como o mais importante fator do progresso humano”. A saudação é aprovada com uma pequena alteração 4.
Só em 1917, já instaurada a República, é apresentado um projeto de lei, pelo Deputado José António da Costa Júnior, para que o 1.º de Maio seja considerado feriado oficial em todo o País. O projeto é apresentado no próprio dia, com pedido de urgência e dispensa do Regimento, sendo lido pela Mesa:
“Celebra hoje o operariado o 1. ° de Maio. Esta manifestação representa a mais legítima comemoração do trabalho, origem de toda a riqueza. Com efeito, sem o trabalho não poderia existir a sociedade organizada, posto que é o fruto de toda a produção e de toda a vida social, e por consequência a mais essencial e nobre missão de indivíduos, e tanto mais que, as sociedades modernas assentam a sua base orgânica no trabalho e reconhecem que é só por meio dele, que se acentua o progresso e a civilização humana. Aos poderes públicos compete honrar o trabalho, e, portanto, é sobremaneira elevado que o dia de 1 de Maio seja considerado feriado. A Câmara, tomando esta resolução, honra os princípios democráticos, que são o apanágio da Constituição da República Portuguesa, e demonstra o seu vivo desejo de estudar e atender as justas reivindicações que constituem o programa da manifestação do 1. ° de Maio e de conjuntamente prestar homenagem à classe proletária, que é sem dúvida a que representa a grande maioria da população do País. Nestes termos, tenho a honra de submeter à consideração da Câmara o seguinte projeto de lei:
Artigo único - O 1. ° de Maio é considerado dia feriado oficial em todo o País.”

Ilustração Portuguesa, 1 de maio de 1905, p. 408-409, HML.
A urgência e dispensa do Regimento foram rejeitadas, tendo sido aprovada por unanimidade uma proposta de saudação ao operariado de todo o mundo. O projeto de lei não chega a ser debatido nem votado.
A 7 de maio de 1919, depois da que é descrita como uma manifestação grandiosa no dia 1.º de Maio, é publicado o diploma que consagra para os trabalhadores do Estado, das corporações administrativas, do comércio e da indústria, a jornada de trabalho de 8 horas/dia e de 48 horas/semana.
Apesar das comemorações do Dia do Trabalhador e dos direitos conquistados em matéria laboral durante a 1.ª República, o 1.º de Maio continua sem ser um feriado, ao contrário do que acontece noutros países, como França ou a Suécia. Em 1929, são fixados por Decreto os feriados gerais da República “para que não haja dúvidas sobre os mesmos”. São fixados sete feriados, muitos dos quais ainda hoje se mantêm, embora com designações distintas, não se incluindo no elenco o Dia do Trabalhador 5.
Durante o período do Estado Novo, não há praticamente referências ao 1.º de Maio nos debates parlamentares, convertido em Festa do Trabalho nos discursos oficiais, a não ser esporadicamente, chegando a ser mencionada se a falta ao trabalho no dia 1.º de Maio constitui justa causa de denúncia do contrato pelo patrão, aquando da discussão do parecer relativo ao Regime Jurídico do contrato de prestação de serviços elaborado pela Câmara Corporativa.
Foi assim necessário aguardar pelo 25 de Abril de 1974 para que o 1.º de Maio, Dia do Trabalhador, fosse consagrado como feriado nacional e desde então fosse celebrado em todo o país.
[1] A Junta de Salvação Nacional foi nomeada e entrou imediatamente em funções logo após a Revolução de 25 de Abril e assegurou o poder até tomar posse o I Governo Provisório.
[2] No dia 1 de Maio de 1886, em Chicago, operários fizeram greve pelas oito horas diárias de trabalho. Na sequência da repressão policial, morreram vários operários.
[3] Em 1891 e 1893 são publicados decretos que regulam o trabalho das mulheres e dos menores, nas fábricas, oficinas e estabelecimentos industriais.
[4] Em vez de “operariado do mundo inteiro como o mais importante fator do progresso humano” fica “operariado do mundo inteiro como um importante fator do progresso humano”.
[5] 1 de janeiro – Consagrado à fraternidade universal; 31 de janeiro – Consagrado aos precursores e aos mártires da República; 3 de maio – Comemorativo da descoberta do Brasil; 10 de junho – Comemorativo da Festa de Portugal; 5 de outubro – Consagrado aos heróis da República; 1 de dezembro – Comemorativo da restauração da Independência; e 25 de dezembro – Consagrado à família.
Ana Vargas
A adjetivação ou a caracterização de uma iniciativa, de um artigo ou mesmo de um comportamento como anticonstitucional ou inconstitucional nasce com a instituição parlamentar, antes ainda da aprovação da primeira Constituição portuguesa, a
23 de setembro de 1822. Mais de um ano antes, a 30 de junho de 1821, já se defendia que a pensão atribuída a D. Maria Teresa e seu filho
1 não deveria ser mais considerável que a atribuída às outras senhoras Infantas “porque o contrário parecia injusto e inconstitucional” (intervenção do Deputado Sarmento nas Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa, a 30 de junho de 1821).
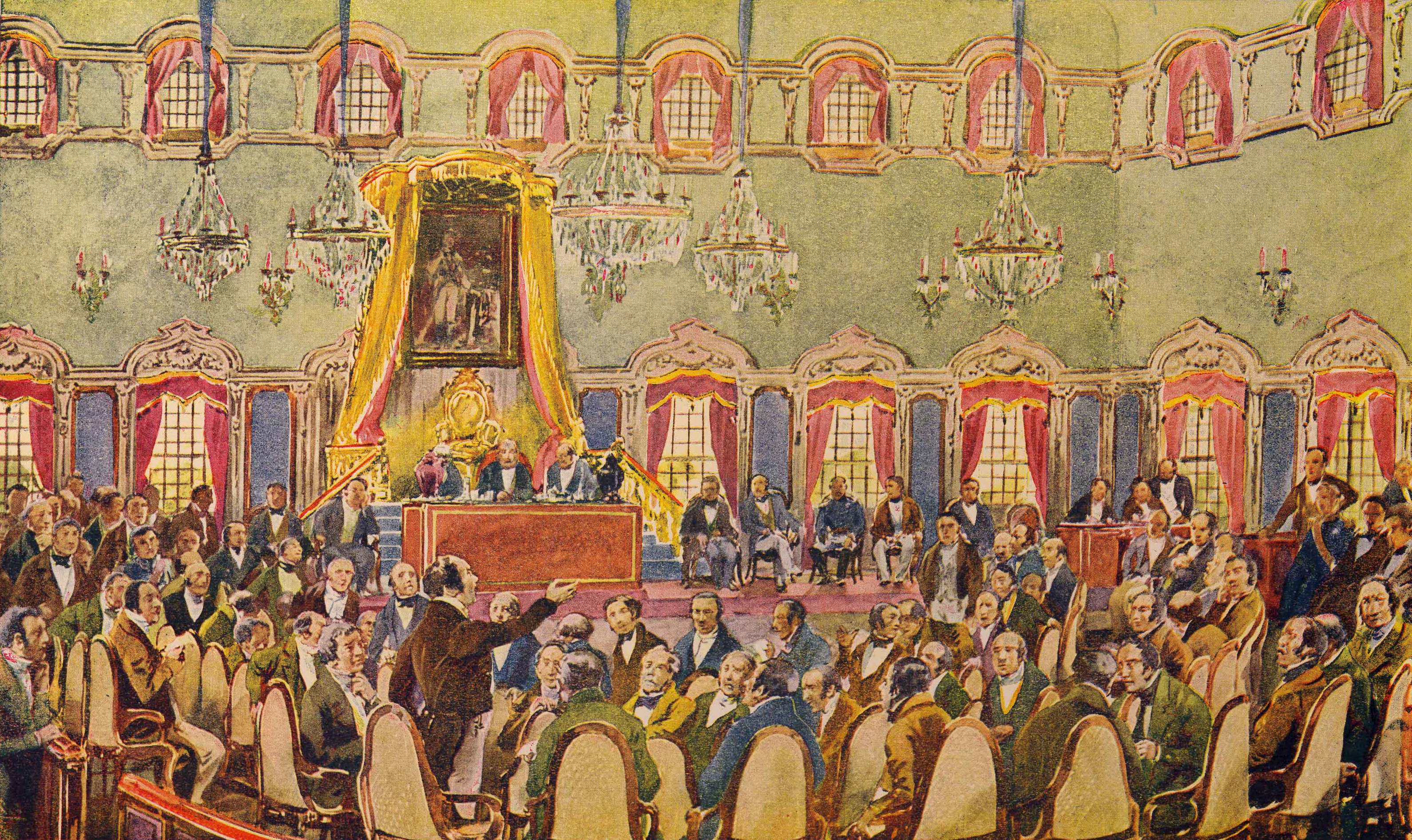
“As Cortes Constituintes de 1820”, por Roque Gameiro. In
Quadros da História de Portugal, 1917.
Nessa mesma sessão, na sequência de uma intervenção do Deputado Borges Carneiro, que apelida de
anticonstitucional e escandalosa uma proposta feita por um outro Deputado - no sentido de ser castigado um parlamentar, caso se provasse que a acusação que fizera a um membro do Governo era infundada -, há alguns momentos de agitação entre os que apoiam uma e outra posição, mas como
anota o taquígrafo Marti, “tudo isto foi obra de um momento e passou com a maior viveza”.

Retrato de Borges Carneiro, estudo para a luneta de Veloso Salgado, representando as Cortes Constituintes de 1821, 1920.
Já após a aprovação da Constituição, a 18 de dezembro de 1822, na Câmara dos Deputados, o Deputado Borges Carneiro
intervém no âmbito do debate sobre a proposta de dissolução do batalhão que guarnecia a Ilha Terceira, referindo que “neste batalhão
tem dominado muito o espírito inconstitucional promovido pelos milhares de morgados, fidalgos e aristocratas de que abunda aquela ilha vaidosa, e excitado pelo general Stockler
2, que, havendo dado palavra de honra ao seu amigo e membro do governo, o general Azedo, de ir para ali propagar o sistema constitucional, nada menos fez, e só tratou de animar aquele espírito, e de prolongar uma teimosa reação contra os princípios constitucionais.
Não digo com isto que todo o batalhão seja anticonstitucional.” O fundamento para a dissolução do batalhão, apresentado pelo Governo, assentava nas contínuas desordens e desgraças que causava na ilha, não se fazendo referência a qualquer norma da Constituição.
Em 1838, na sequência da Revolução de Setembro de 1836, são eleitas as Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa, com poderes constituintes, delas tendo resultado a Constituição de 1838, jurada por D. Maria II. Apesar de ter sido temporariamente reposta em vigor a Constituição de 1822, as palavras inconstitucionalidade ou anticonstitucional são ditas sem que se invoque em concreto a norma constitucional violada, como aconteceu no debate realizado na sessão de 5 de maio de 1837, sobre o contrato feito pelo Governo com uma empresa que se propunha atravessar o Tejo, sem concurso prévio.
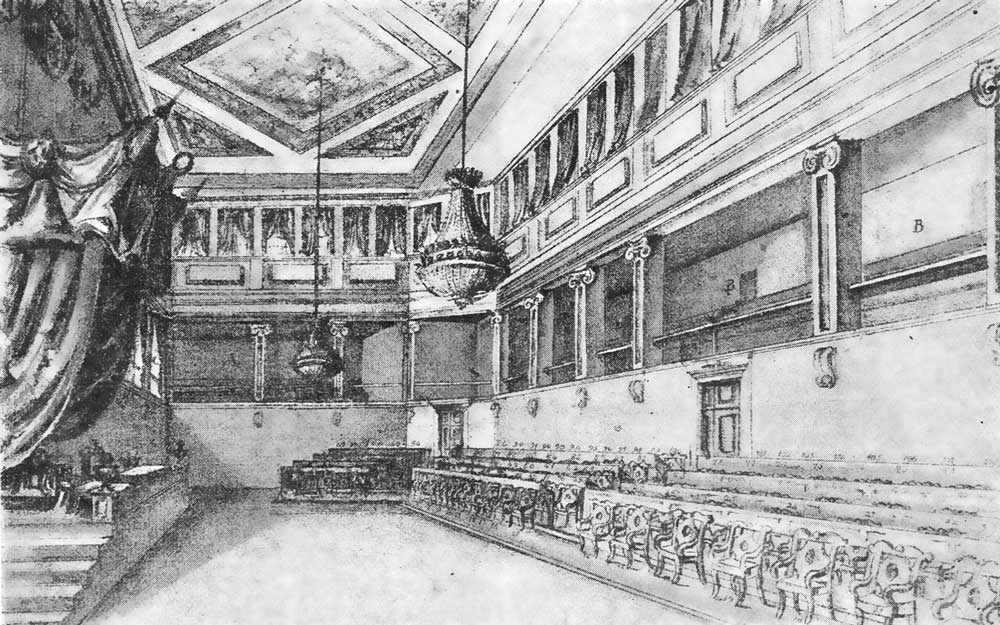
A primeira sala da Câmara dos Deputados instalada no antigo Mosteiro de São Bento da Saúde. In
A Guarda Avançada dos Domingos, 10 de maio de 1835.
O Deputado Almeida Garrett
intervém, considerando que não havia que respeitar leis que não existiam e que o princípio devia ser o da utilidade pública:
“Bem, todos querem isso (a travessia do Tejo); mas dizem que também, querem que se salvem certos princípios. E quais são esses princípios que aqui se defendem? São porventura que o trabalho legislativo deve ser feito depois do administrativo? Eu também entendo ser mais natural! Mas tão inflexível é esse princípio?
Pela minha parte estou pronto a transigir, quero carregar com todo o peso da responsabilidade, que daqui me vier: quero que a nação me chame inconstitucional. Não há de tal chamar. A nação tem mau juízo do que seus nojentos aduladores inculcam.”
Também na Assembleia Nacional Constituinte, eleita após a Revolução de 5 de Outubro de 1910, para elaborar a Constituição, se falou de inconstitucionalidade. Num debate realizado a 10 de agosto de 1911, que teve Ordem do Dia e Ordem da Noite e que haveria de prosseguir até às 12 horas e 25 minutos da madrugada, debateu-se a proibição de o Presidente da República, eleito pelo Congresso, ser escolhido de entre os membros do Governo. Esta proposta foi
apresentada pelo Deputado Inocêncio Camacho, por considerar que a Constituição devia estabelecer um ”freio às ambições de um mau Ministro corrupto”. Outros Deputados apoiaram-na por considerarem que um Presidente da República não podia estar sujeito às paixões parlamentares, mas, na sua maioria, manifestaram-se contra, tendo inclusivamente sido proposta uma exceção relativa aos membros do Governo então em funções. O Deputado António Macieira
finaliza o debate:
“Para mim considero a proposta do Deputado Inocêncio Camacho inconstitucional, considero-a uma ofensa ao atual Governo, considero-a imoral, considero-a, Sr. Presidente e Srs. Deputados, mais que tudo e acima de tudo, extremamente perigosa. Não tenho idade nem bastantes cabelos brancos para dar conselhos; se os tivesse já seria porque estava mais avançado em idade, contento-me bem com os que tenho na idade em que estou; mas Sr. Presidente, já aqui os deu uma pessoa mais nova que eu, seja-me lícito também aconselhar. Aos velhos não fica mal receber conselhos e até solicitá-los. Assim, Assembleia Nacional Constituinte, representantes da Nação, da soberania nacional, meditai bem no passo que ides dar, vede bem que a questão é grave.”

Sessão inaugural da Assembleia Nacional Constituinte, em 1911, fotografia de Joshua Benoliel, Arquivo Fotográfico da Assembleia da República (AR-AF).
Esta inelegibilidade não foi aprovada, ficando no texto constitucional como inelegíveis para Presidente da República as pessoas das famílias que reinaram em Portugal e os parentes consanguíneos ou afins do Presidente que sai do cargo.
Previamente aos trabalhos da Assembleia Constituinte, eleita a 25 de abril de 1975, na sequência da Revolução de 25 de Abril de 1974, foram publicadas diversas leis, para valer como leis constitucionais, designadamente a Lei n.º 3/74, de 14 de maio, que “Define a estrutura constitucional transitória que regerá a organização política do País até à entrada em vigor da nova Constituição Política da República Portuguesa”, e que mantinha transitoriamente em vigor a Constituição Política de 1933 naquilo que não contrariasse os princípios expressos no Programa do Movimento das Forças Armadas (MFA).
Apesar da existência de um enquadramento constitucional, nos debates realizados na Constituinte, com frequência se punha em causa uma proposta, considerando-a inconstitucional, sem fazer referência à norma ou ao preceito que era assim desrespeitado, como foi o caso da discussão havida a 23 de agosto de 1975.
Debatia-se então o que ficaria como artigo 18.º da Constituição, com a epígrafe “Força Jurídica”, sobre a restrição de direitos, liberdades e garantias, em especial se a limitação à imposição de deveres vigoraria em todas as leis ou apenas naquelas cujo objeto era o de impor restrições a direitos individuais.

Projeto de Regimento da Assembleia Constituinte: plano de elaboração da Constituição, Arquivo Histórico Parlamentar.
Questionado o Deputado José Luís Nunes, sobre a redação proposta, intervém:
“(…) as leis restritivas das liberdades, direitos e garantias, 2.ª parte, deverão ter sempre carácter geral e abstrato e em caso nenhum poderão diminuir a extensão e o alcance do conteúdo essencial dos preceitos constitucionais. Este ponto é fundamental. O que é que isso quer dizer? Quer dizer, evidentemente, que não é possível fazer entrar pela janela aquilo que não se pode sequer fazer entrar pela porta. Quer dizer que nenhuma lei se pode contrapor ao conteúdo essencial do direito constitucional, aquilo que é fundamental, o que é fundamento.
Agora o que é que resta daqui? Eu pergunto, o que é que resta daqui? Há um sujeito que quer obrigar todos os cidadãos – nós não estamos ainda no Uganda, nem o nosso Governo tem nada a ver com o do general ldhi Amin
3.
Mas uma lei que quer obrigar todos os cidadãos a usarem, ao pescoço, o distintivo ou a fotografia do Presidente da República evidentemente que é uma lei anticonstitucional, embora um homem que queira obrigar os cidadãos a usar ao pescoço o distintivo do Presidente da República é um homem que está louco, ou é paranoico.”
Risos.
“Portanto, onde é que isto bate? A lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente previstos nesta Constituição. Há um direito meu de usar ao pescoço aquilo que muito bem entender. Portanto, esta lei já está ferida de inconstitucionalidade. Eu não vejo onde é que bate, não consigo compreender.”
Nas quatro assembleias constituintes que, ao longo da vida parlamentar, se reuniram para elaborar constituições, com muita frequência, nos debates se adjetivavam de inconstitucional ou anticonstitucional normas e até pessoas ou atitudes, sem nunca se invocar a disposição constitucional violada, dando ao termo um uso pejorativo, por contrastar com o sentir dominante dos Deputados constituintes.
Ana Vargas
[1] Maria Teresa de Bragança, filha primogénita de D. João VI de Portugal e de Carlota Joaquina, casou em 1810 com o neto de Carlos III de Espanha, que veio a falecer em 1812. Desse casamento nasceu um filho, Sebastião de Bourbon e Bragança.
[2] Stockler é nomeado Capitão General dos Açores, aonde chega a 18 de outubro de 1820. Contra a expetativa dos liberais, não reconhece a legitimidade das instituições existentes em Lisboa. Depois de diversos levantamentos e revoltas nas ilhas, é dada ordem régia para que Stockler saia da Ilha Terceira.
[3] Idhi Amin Dada foi um militar ugandense que ocupou o cargo de Presidente de Uganda de 1971 até 1979, na sequência de um golpe de Estado que derrubou o então Presidente. Durante o período que esteve no poder, instaurou uma ditadura repressiva e extremamente violenta.
 O Presidente da Assembleia lendo o discurso do Presidente do Conselho sobre a ocupação de Goa, Damão e Diu
O Presidente da Assembleia lendo o discurso do Presidente do Conselho sobre a ocupação de Goa, Damão e Diu
De 17 para 18 de dezembro de 1961, soldados da União Indiana, apoiados pela aviação e por uma esquadra naval, atacam os territórios de Goa, Damão e Diu. No dia seguinte, as tropas portuguesas, em número muito inferior às tropas indianas, rendem-se e os militares portugueses são feitos prisioneiros.
A4 de janeiro de 1962, o Presidente do Conselho, António de Oliveira Salazar, apresenta uma comunicação à Assembleia Nacional. Começa por informar que «com as emoções das últimas semanas sobreveio-me um acidente que me tirou a voz ou, pelo menos, não me deixou a voz suficiente para uma leitura de certa extensão. Não devendo ser adiada a comunicação que o Governo deve aos portugueses sobre a invasão e ocupação de Goa pela União Indiana, não me pareceu haver outra solução que não fosse comparecer aqui, entregar na Mesa a minha exposição e pedir ao Sr. Presidente da Assembleia Nacional o obséquio de proceder à sua leitura».
A comunicação começa por referir que «a Nação tem pleno direito de saber como e porque se encontra despojada do Estado Português da índia. Goa, portuguesa há 450 anos e agora ocupada pela União Indiana, representa um dos maiores desastres da nossa história e golpe muito fundo na vida moral da Nação».
Se nesta comunicação e nas intervenções feitas nas sessões seguintes foi atacada a União Indiana, não menos foram a ONU e os nossos aliados tradicionais.
António de Oliveira Salazar, cuja comunicação é, nesta parte, pontuada por risos dos Deputados, chega a perguntar «como fomos ali parar» e afirma que se não formos o primeiro país a abandonar as Nações Unidas, estaremos certamente entre os primeiros.
A sessão plenária de
5 de janeiro de 1962 é integralmente dedicada a esta questão, tendo o Deputado Soares da Fonseca, depois de reputar de notável a comunicação ouvida na véspera, deixado o «testemunho de profunda admiração pela penetrante argúcia e sólida cultura [do Presidente do Conselho] e viva inteligência» e declarado que «jorram lágrimas de sangue na alma dolorida da Pátria».
A intervenção que faz é também fortemente crítica quanto à atuação das Nações Unidas:
«Deveria o próprio Mundo em geral, congregado na torre babélica da ONU, se a esta não faltasse, desde a sua infeliz nascença, aquele suplemento de alma de cuja carência lhe advirá morte precoce, corar de vergonha diante do assalto a Goa, em impúdica transgressão das regras mais essenciais do direito das gentes».
Já anteriormente, a
12 de dezembro de 1961, o Deputado Prisónio Furtado, nascido em Goa, e Deputado na Assembleia Nacional entre 1961 e 1965, interviera sobre esta questão:
«Os acontecimentos que se estão desenvolvendo nas fronteiras dos nossos territórios da Índia Portuguesa fizeram-me perder a calma e a serenidade. Era natural que assim fosse. Os visados diretamente somos nós, os indo-portugueses. (…) Há um português que, mais do que todos os outros, sente que o problema dos nossos territórios da Índia é o problema da própria nação portuguesa. Sente e vê esse problema com a luminosidade do dia. É quem está à testa dos destinos da nação portuguesa, o Chefe do Governo português. Se fosse possível auscultar o coração deste homem, eu encontraria ali as pulsações mais de um coração indo-português do que de um coração de português metropolitano».
Independentemente das moções aprovadas na Assembleia Nacional e das diligências efetuadas pelo governo e pela diplomacia portuguesa, Goa, Damão e Diu são integradas na União Indiana.
Só depois do 25 de Abril, Portugal viria a reconhecer a soberania da Índia sobre estes territórios, através da aprovação da Lei Constitucional n.º 9/74, de 15 de outubro, que «Autoriza o Presidente da República, ouvidos a Junta de Salvação Nacional, o Conselho de Estado e o Governo Provisório, a concluir um acordo entre Portugal e a União Indiana pelo qual Portugal reconhece a plena soberania da União Indiana sobre os territórios de Goa, Damão, Diu, Dadrá e Nagar Aveli». O tratado é assinado e ratificado em 1975.
Ana Vargas
Ao longo de mais de 200 anos, várias foram as designações da instituição parlamentar: Cortes, Câmara dos Deputados, Congresso da República ou Assembleia Nacional 1.
Em 1976, a Assembleia Constituinte, eleita por sufrágio direto e universal um ano após a Revolução de 25 de Abril de 1974, consagraria no texto constitucional a designação da futura assembleia parlamentar como “Assembleia da República”.
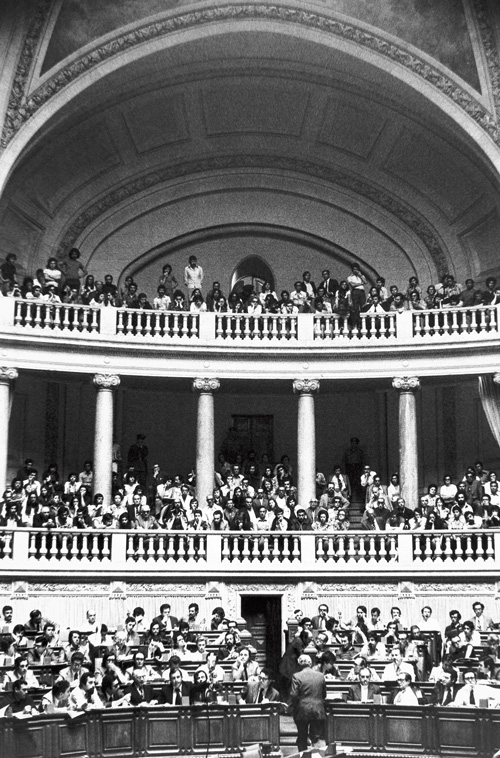
Assembleia Constituinte, fotografia de Novo Ribeiro, Arquivo Nacional da Torre do Tombo.
Nos projetos de Constituição apresentados pelos partidos políticos à Assembleia Constituinte, tinham sido apresentadas três propostas para a designação do novo órgão parlamentar: “Assembleia Legislativa” (CDS e MDP-CDE), “Câmara dos Deputados” (PCP e PPD) e “Assembleia Legislativa Popular” (PS) 2.
A discussão sobre o nome da futura assembleia parlamentar surge na sessão de 10 de março de 1976, após o debate e a votação dos artigos da Constituição relativos à “Assembleia dos Deputados”, a designação que constava no texto apresentado pela 5.ª Comissão 3.
O Deputado José Luís Nunes, em representação do PS, opõe-se à designação “Assembleia dos Deputados”, por considerar, entre outros aspetos, “incorreto e pleonástico” definir-se o órgão pelo nome dos seus membros e não pelas suas competências. Defende a designação “Assembleia Legislativa”, que “de certa maneira, consagra o princípio da repartição dos poderes entre o executivo, o legislativo e o judicial”, sendo ainda utilizada pela população na referência às eleições para a Assembleia como “eleições para a Legislativa”. Rejeita os termos “Assembleia Nacional”, “Parlamento” e “Câmara dos Deputados”, o primeiro pela conotação com o regime ditatorial, o segundo pela associação pejorativa a “discussões intermináveis”, mas também por ser adotado em sistemas bicamerais, e o terceiro igualmente pela ligação ao bicameralismo, pois “pressupõe que haja outras assembleias representativas que não são assembleias dos deputados”.
Pelo PPD, o Deputado Jorge Miranda opõe-se à designação “Assembleia Legislativa”, estando previstos outros órgãos com funções legislativas, como o Conselho da Revolução e o Governo, acrescentando ainda que se trata de uma assembleia que, além de funções legislativas, tem competências políticas e de fiscalização do Executivo.
Anuncia, de seguida, a apresentação de uma proposta do PPD para a designação “Parlamento” como o termo que melhor identifica “uma assembleia representativa democrática, livremente eleita, em que há representação das várias tendências políticas e que pratica e tem competência para praticar atos de decisão efetiva da vida política do País”.
No entanto, Jorge Miranda desvaloriza o debate, salientando que o PPD apenas apresenta esta proposta por a questão ter sido levantada pelo PS e provoca risos na Assembleia com o comentário “Não sei se preferem Cortes…”.
Após várias intervenções sobre esta matéria, o Deputado Independente Mota Pinto apresenta uma nova proposta no sentido de designar a assembleia parlamentar com um nome que ainda não tinha surgido no debate:
“(…) Parlamento tem certas conotações que desagradam, Assembleia Nacional também, Assembleia Legislativa idem, Câmara dos Deputados igualmente, pelo que eu vou ter a audácia de sugerir uma outra denominação (…).
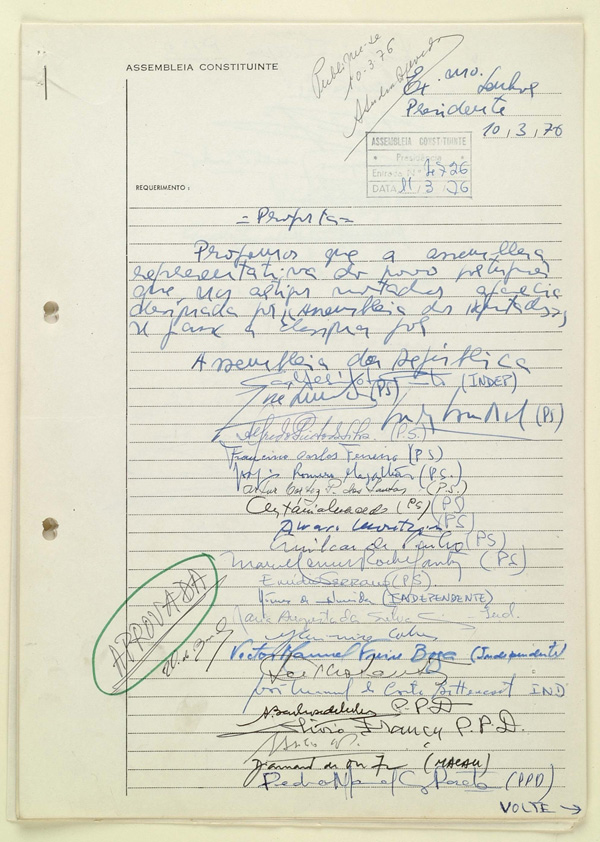
Primeira página da proposta para a designação “Assembleia da República”, Arquivo Histórico Parlamentar.
Eu creio que poderíamos chamar à Assembleia Legislativa, pura e simplesmente, Assembleia da República. Assembleia da República, porque é o órgão colegial que exprime e traduz a República.
Há o Presidente da República, uma figura singular, que encabeça e simboliza, portanto, o Estado. E há um órgão colegial que exprime, que é o representante do povo português. Creio que esta expressão, que está em paralelismo com a designação 'Presidente da República', põe em relevo o carácter colegial, reabilita e dá o devido valor a uma fórmula: a palavra 'República', que na história das ideias, que na história das formas de Estado, tem um conteúdo progressista, tem um conteúdo democrático, é sinónimo de democracia em todas as dimensões que a democracia pode exprimir. Por esse motivo, e sem atribuir a este problema nenhuma importância especial, eu sugeriria a fórmula 'Assembleia da República.”
A proposta para a designação “Assembleia da República” é aprovada por unanimidade e aplaudida prolongadamente por todos os Deputados.
A Constituição seria aprovada a 2 de abril e entraria em vigor no dia 25 de abril de 1976, data das primeiras eleições para a Assembleia da República.
Teresa Fonseca
[1] As designações das assembleias parlamentares (sistemas unicameral e bicameral) desde 1821 podem ser consultadas aqui.
[2] O projeto da UDP não previa uma assembleia parlamentar.
[3] A 5.ª comissão elaborou o articulado da Constituição na parte relativa ao órgão parlamentar, inserida no capítulo “Organização do poder político”.
No período antes da ordem do dia de
8 de março de 1990, o Presidente da Assembleia da República, Vitor Crespo, depois de questionado pelo facto de ter permitido o uso da figura regimental da interpelação por algumas Deputadas, justifica-se referindo que “é óbvio que não têm sido feitas interpelações tal como não são interpelações 99% dos pedidos de palavra que se fazem nesta Casa ao abrigo dessa figura regimental”.
 Natália Correia, escritora, política, durante a discussão no parlamento sobre o "Caso PRP" 19/6/1982
Natália Correia, escritora, política, durante a discussão no parlamento sobre o "Caso PRP" 19/6/1982
Rui Homem/Arquivo DN
Mais à frente, depois de ter sido de novo questionado sobre a condução de trabalhos, defende-se, referindo que, desde que usadas com parcimónia e bom senso, a utilização de interpelações e da defesa da honra podem contribuir para dar algum dinamismo à atividade parlamentar e para prestigiar o Parlamento. Esclarece ainda que a Conferência de Líderes tinha optado por manter o período antes da hora do dia, apesar da agenda sobrecarregada, dado tratar-se do Dia Internacional da Mulher e confessa que havia ficado surpreendido ao verificar “que não havia nenhuma mulher inscrita para intervir.”
Apesar de não inscritas, o período antes da ordem do dia inicia-se com interpelações à Mesa por parte das Deputadas Edite Estrela (PS) e Luísa Amorim (PCP). A primeira começa por referir que não é novidade para ninguém que no dia 8 de março se comemora o
Dia Internacional da Mulher, o que pode causar espanto “é a insustentável leveza com que a Assembleia da República trata os problemas da mulher.”
A Deputada Luísa Amorim intervém de seguida, referindo que a Assembleia da República não pode transformar este dia “num ritual falso, hipócrita, vazio”, devendo discutir “nesta data, projetos concretos que respondam aos problemas reais das mulheres, as quais continuam, em Portugal, a ser discriminadas e marginalizadas”.
Depois usa da palavra a Deputada Natália Correia (PRD), que também a solicitou para interpelar a Mesa:
“Poder-se-ia não consentir, mas concluir, que o desdém que aqui e hoje subestima o dia da mulher, relegando-o para o espaço fatalmente exíguo num período de antes da ordem do dia, sem prolongamento, seria um agónico espumar desse decrépito mito da superioridade viril, que nenhuma mulher a sério tomou, mas fazia de conta, porque a então florescente androcracia a tanto a constrangia.
Mas, a ser essa a razão do amesquinhamento a que se vota o dia da mulher na instituição que representa um povo maioritariamente feminino, esperar-se-ia ao menos que o cavalheirismo – que, em galanterias rendidas à mulher, era coalescente à hegemonia viril – se curvasse em vénia, ainda que hipócrita, ao dia da mulher, dando-lhe comemoração condigna nesta Assembleia. Mas nem mesmo isso. Cuidado, Srs. Deputados, não acirreis com essas birras residualmente machistas, sem contrapartida de ramo de flores e beija-mão, um feminismo gerador do poder da mulher, que já alastra por esse mundo fora e que está a acelerar vertiginosamente o crepúsculo da soberania do varão.”
 Voto de protesto, Arquivo Histórico Parlamentar (AHP).
Voto de protesto, Arquivo Histórico Parlamentar (AHP).
 Voto de protesto, Arquivo Histórico Parlamentar (AHP).
Voto de protesto, Arquivo Histórico Parlamentar (AHP).
Deputadas do PS, do PCP e do PRD apresentam o
Voto de Protesto n.º 134/V pela recusa do agendamento da celebração do Dia Internacional da Mulher e da sua apreciação na sessão plenária de 8 de março, que entregam na Mesa, pedindo que seja lido integralmente e votado naquela sessão plenária. O voto, previamente aprovado pela Subcomissão para a Igualdade de Direitos e Participação da Mulher, incluía vários considerandos, designadamente o facto de a celebração do dia 8 de março pela Assembleia da República ter sido sucessivamente esvaziada de conteúdo e transformada em mera liturgia de declaração de intenções, que, segundo as signatárias, em nada contribuíam para a resolução dos problemas concretos das mulheres.
Na sequência de intervenções de Deputados do PSD que responsabilizam a Mesa pela forma como estava a conduzir os trabalhos, o Deputado Lemos Damião (PSD) intervém:
“- Sr. Presidente, V. Ex.ª vai permitir-me que, como homem, me solidarize com as mulheres.
Risos do PSD.
Aplausos do PS e do PCP.
O
Sr. José Lello (PS): - Ah! Valente!
O Orador: Como homem, permita-me que diga às mulheres que, quando não protestam, são mais belas.
 Declaração de voto, AHP.
Declaração de voto, AHP.
Como homem, permita-me que diga às mulheres que devem conquistar a igualdade pelos seus méritos e não por serem mulheres.
Vozes do PSD: - Muito bem!
O Orador: - Como homem, permita-me que diga: respeitemo-nos! Finalmente, como homem, peço, empenhadamente, às mulheres que ajudem a criar o Dia Mundial do Homem.
Risos do PSD e do PS.”
As Deputadas Ilda Figueiredo (PCP) e Helena Torres Marques (PS), seguidas do Deputado Carlos Brito (PCP) interpelam igualmente a Mesa, para contestar a decisão de não agendamento de iniciativas relativas à mulher e para exigir a votação do voto aprovado pela Subcomissão para a Igualdade de Direitos e Participação da Mulher.
Depois de consultados os vários grupos parlamentares, no final do período de antes da ordem do dia, o voto foi posto a votação sem declarações de voto e sem discussão, tendo sido rejeitado com os votos contra do PSD e os votos a favor do PS, PCP e PRD.
Como esclareceria a Deputada Edite Estrela, o facto de não ser permitida uma declaração de voto oral, não invalidava a sua apresentação por escrito, o que foi feito de seguida.
Ana Vargas
No dia 20 de agosto de 1975, a Assembleia Constituinte debate na especialidade o texto da Comissão de Direitos e Deveres Fundamentais. Em apreciação está o artigo 2.º da proposta da Comissão1, que determinava a igualdade de todos os cidadãos e o princípio da não discriminação, nomeadamente em função do sexo.
O PCP propõe o aditamento de um artigo, igual ao artigo 25.º do projeto de Constituição que tinha apresentado.
“Artigo 2.º-A
1 - As mulheres têm direitos e deveres iguais aos homens, não podendo ser, por esse motivo, objeto de discriminação em qualquer esfera da vida económica, cultural ou política.
2 - A base da igualdade de direitos e deveres da mulher é a igualdade do direito ao trabalho e a igualdade de salário para trabalho igual.”
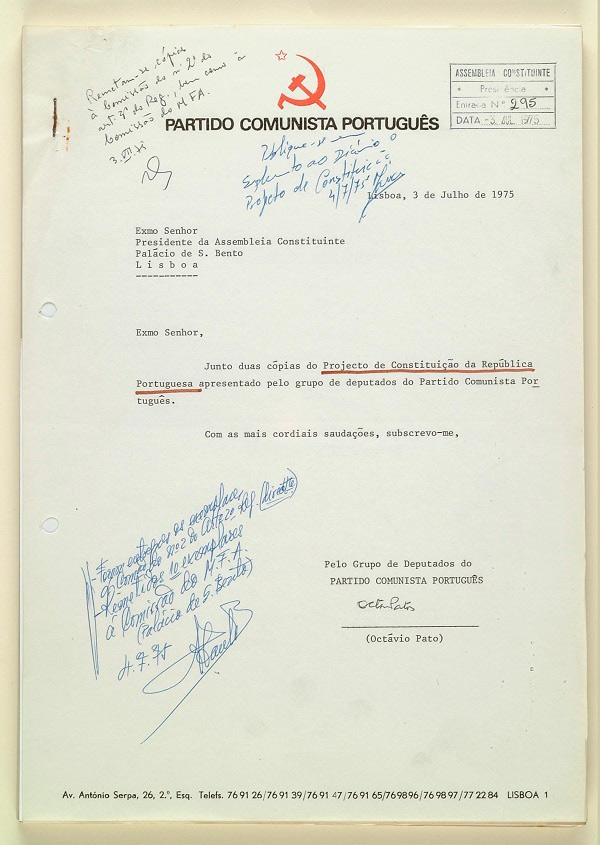
Fernanda Patrício (PCP) justifica a introdução deste artigo, como uma resposta à inexistência de igualdade de direitos na prática:
“Este artigo consta no nosso projeto, e não se compreenderia que a Assembleia recusasse este aditamento, visto que é evidente para todos nós que as mulheres trabalhadoras não têm na prática essa igualdade de direitos, que nós teremos por dever considerar nesta Constituinte.”
Maria Helena Carvalho Santos (PS), salientando que o seu partido é o que tem maior representação de mulheres no Hemiciclo, manifesta o seu desacordo relativamente à proposta do PCP, que considera discriminatória:
“Ao consignarem na Constituição a expressão «todos os cidadãos», é bem claro que querem dizer «todas as cidadãs» e «todos os cidadãos», já que, gramaticalmente, se usa o plural masculino. Se a proposta do PC é no sentido de reforçar a igualdade da mulher, então eu lembro-lhe que não foi suficientemente avançada a sua proposta, porque em relação a outras constituições de outros países, em que se consagra o privilégio da mulher em relação a igualdade de circunstâncias.
Nós, no PS, se também não consignámos este princípio no nosso projeto de Constituição, nem o propusemos a este hemiciclo, é porque somos contra os privilégios e os privilegiados.”
Acrescenta ainda que, sendo o problema da igualdade da mulher “um problema social e cultural”, a sua inclusão na Constituição em nada viria, “na prática, alterar as condições sociais, económicas e culturais que afligem ainda muitas das mulheres portuguesas.”
Maria Teresa Vidigal, também do PS, classificaria a proposta de “redundante e paternalista”.
Na discussão na generalidade do Título I (Princípios gerais) da Comissão de Direitos e Deveres Fundamentais, tinha afirmado que aquele título “não se refere especificamente à mulher, mas sim a todos os cidadãos. Achamos correto porque nós não queremos nem admitimos discriminações ou privilégios. Os casos específicos relativos à maternidade e aleitamento devem ser encarados como direitos, e não como privilégios. (…). Destacar o problema da mulher do contexto global revolucionário é desvirtuar a luta de classes e abrir caminho à luta de sexos.”
Diz ainda:
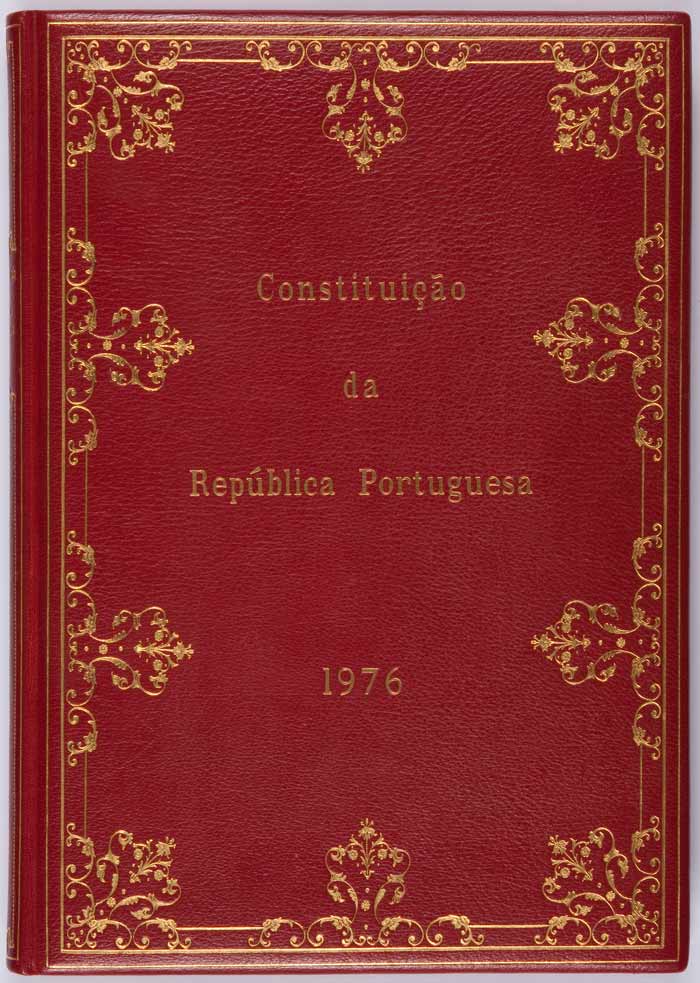
“A revolução socialista não tem sexo. E porque a revolução é uma conquista de todos os dias, será à mulher, no seu papel de mãe e educadora, que caberá a missão de transmitir a seus filhos os conceitos de socialismo que farão deles os continuadores certos de uma revolução certa”.
Pelo PPD, Maria Amélia Azevedo, concordando quanto “à necessidade de, na Constituição e posteriormente noutras leis, (…) ser dada realmente à mulher o lugar que lhe compete na sociedade socialista que nós estamos a construir”, considera o aditamento redundante, uma vez que o princípio da não discriminação em razão do sexo já estava expresso no anterior artigo.
O debate terá provocado risos na Assembleia, denunciados na intervenção de Vital Moreira (PCP), que argumenta pelo aditamento, referindo que o princípio da igualdade da mulher aparece em muitas Constituições:
“Como não considero, ao contrário de alguns Deputados que estão a rir-se, que isto é um assunto de mulheres (risos) – aparentemente os ridentes consideram – devo dizer, para responder ao argumento que aqui foi produzido, e por isso é que estou a falar, de que seria redundante consagrar uma discriminação positiva a favor das mulheres, quando já está no artigo anterior considerado a igualdade e a não discriminação em razão do sexo, devo dizer que esta norma especial, a respeito da igualdade dos direitos da mulher aparece imediatamente a seguir ao artigo sobre a igualdade de direitos em muitas Constituições, nomeadamente em todas ou quase todas as Constituições progressistas, socialistas ou não.”
Afirmando que se trata de um assunto “de todos nós”, José Luís Nunes (PS), considera “perigoso consagrar essa teoria de que efetivamente a igualdade de salário e a igualdade de trabalho seriam condições fundamentais, quase decisivas, no estabelecimento da igualdade da mulher”.
Alda Nogueira (PCP) volta a referir os risos no Hemiciclo a propósito do debate sobre a igualdade da mulher:
“Se outros motivos não houvesse para ser inserida na Constituição que estamos aqui a elaborar, este aditamento proposto pelo PCP, bastavam os risos que aqui soaram para o justificar.”
Respondendo a José Luís Nunes, concorda com a afirmação em como inserir o princípio da igualdade salarial da mulher não basta, mas considera que se “essa disposição não for inserida se podem abrir portas para a continuação de uma superexploração.”
Após a votação que ditou a rejeição da proposta do PCP2, os partidos políticos apresentaram declarações de voto, reforçando os argumentos anteriormente apresentados.
[1] “Artigo 2.º | 1 - Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei.
2 - Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado ou privado de qualquer direito em razão do sexo, ascendência, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica ou condição social.”
[2] O n.º 1 foi rejeitado, com 33 votos a favor e 101 votos contra, sendo os restantes abstenções. O n.º 2 foi rejeitado, com 33 votos a favor, nenhuma abstenção e os restantes votos contra.
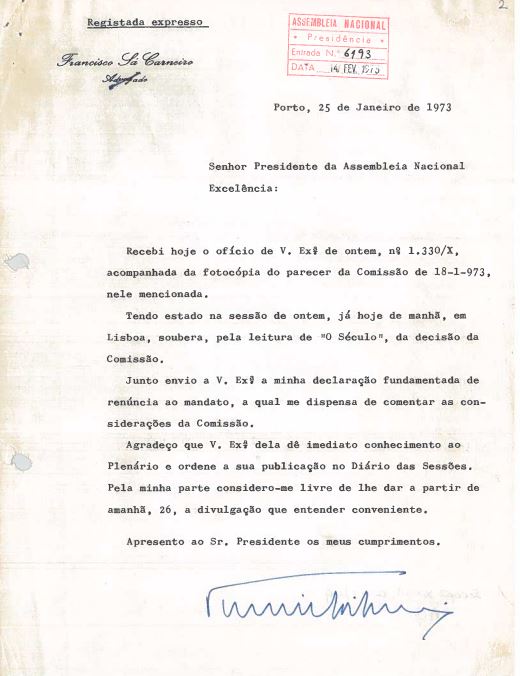
Na carta que dirige ao Presidente da Assembleia Nacional, Sá Carneiro pede expressamente que a declaração de renúncia seja publicada no Diário das Sessões, Arquivo Histórico Parlamentar (AHP).
Eleito em 1969, após a ascensão ao poder de Marcelo Caetano e a anunciada renovação política do regime do Estado Novo, Francisco Sá Carneiro integra a designada Ala Liberal da Assembleia Nacional1.
Cerca de três anos depois,
a 25 de janeiro de 1973, Sá Carneiro renuncia ao mandato de deputado. Na declaração de renúncia, recorda as condições que impôs para a candidatura a deputado: “que ela não implicava o compromisso de apoiar o governo e tinha essencialmente como fim pugnar pelas reformas políticas, sociais e económicas”, no respeito pelos direitos e liberdades fundamentais.
Sá Carneiro prossegue referindo a sistemática recusa da Assembleia Nacional em debater os projetos de lei por ele subscritos, como o último apresentado sobre a amnistia dos presos políticos. Na exposição de motivos desta iniciativa, o Deputado denuncia a ausência de liberdades públicas e do pluralismo democrático anunciado na campanha eleitoral de 1969. Considera que os “chamados crimes políticos são, na sua quase totalidade, artificiais” e que a sua repressão “é a expressão da intransigência de um poder ilimitado que não admite a livre expressão crítica ou a atuação contrária de quem dele diverge.”2
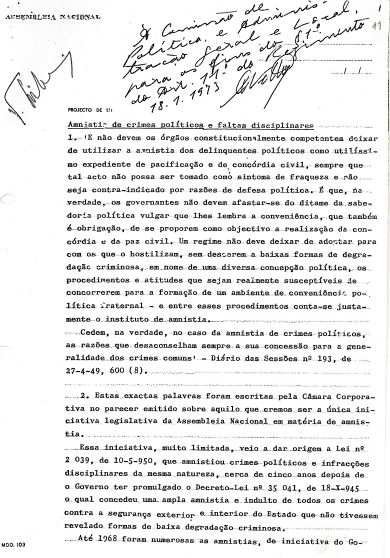 Projeto de lei sobre a amnistia dos presos políticos, AHP.
Projeto de lei sobre a amnistia dos presos políticos, AHP.
Na apreciação do projeto de lei, a Comissão de Política e Administração Geral e Local começa por criticar a publicitação da iniciativa nos órgãos de comunicação social antes de ser dado o devido conhecimento à Comissão, conforme os termos regimentais. O parecer, aprovado por unanimidade, declara a iniciativa “como gravemente inconveniente.”
Para Sá Carneiro, a “sistemática declaração de inconveniência” dos seus projetos de lei levam-no a concluir que não pode continuar a desempenhar o cargo de deputado com dignidade, “por inexistência do mínimo de condições de atuação livre e útil”.
O anúncio desta declaração é feito na
sessão de 31 de janeiro de 1973, pelo Presidente da Assembleia Nacional, Carlos Monteiro do Amaral Neto:
“É uma decisão que eu respeito tanto quanto deploro. Mas o facto de o Sr. Deputado não ter querido atender à minha diligência para que reconsiderasse sobre ela, obriga-me, nos termos regimentais, a submetê-la a VV. Exas. que, por votação em escrutínio secreto deverão decidir se a aceitam ou não.
Vou comunicar a cada um de VV. Exas. o teor da declaração de renúncia, para se poderem pronunciar com pleno conhecimento de causa, e depois de amanhã proceder-se-á à votação em escrutínio secreto sobre esta declaração de renúncia.”
Dois dias depois,
o Deputado Pinto Machado questiona o Presidente da Assembleia Nacional sobre o facto de o parecer da Comissão e a declaração de Sá Carneiro não terem sido publicados no Diário das Sessões, defendendo que o país tem o direito de saber a razão da renúncia de um deputado.
O Presidente da Assembleia Nacional responde que, de acordo com o Regimento, não é obrigado a mandar publicar a declaração de renúncia ao mandato, entendendo que
não se deve divulgar publicamente questões delicadas que podem envolver “graves melindres”.
Submetida à votação, a renúncia de Sá Carneiro é aprovada com 76 votos a favor e 9 contra.
Teresa Fonseca
[1] A Ala Liberal era constituída por um grupo de personalidades liberais que concorreram como independentes nas listas da Ação Nacional Popular, o partido único que sucedeu à União Nacional. José Pedro Pinto Leite, Francisco Pinto Balsemão, João Bosco Mota Amaral, João Pedro Miller Guerra, e Joaquim Magalhães Mota incluíam-se também neste grupo.
[2] Sobre Sá Carneiro e a questão dos presos políticos, ver também: https://www.parlamento.pt/Parlamento/Paginas/Regime-presos-politicos.aspx
Na
sessão de 29 de novembro de 1972,
Miller Guerra presta homenagem ao antigo parlamentar José Guilherme de Melo e Castro
[1], destacando as suas qualidades como político, o seu papel crítico das políticas governativas na área da saúde e assistência social e o seu desalento com a fase final da governação de Salazar.
“Era seu costume dividir o regime salazarista em três períodos: o primeiro, que ele hiperbolicamente chamava heroico, ia até à guerra de Espanha; o segundo, de consolidação, até à guerra mundial; o terceiro, denominava-o de estagnação (…).
Eis por que saudou a mudança do Governo em 1968, que ele esperava fosse também do Regime ou, pelo menos, que preparasse as condições para isso. O seu desejo era que uma vida nova começasse, uma vida política europeia, como ele dizia.
(…) Ao marasmo político sucedeu - por bem pouco tempo, infelizmente - o fervilhar das iniciativas em torno da ideia nuclear de liberalização.”
O Deputado Casal-Ribeiro interrompe para lamentar que uma circunstância de luto seja ocasião para uma manifestação contra o regime e a ausência de liberdade.
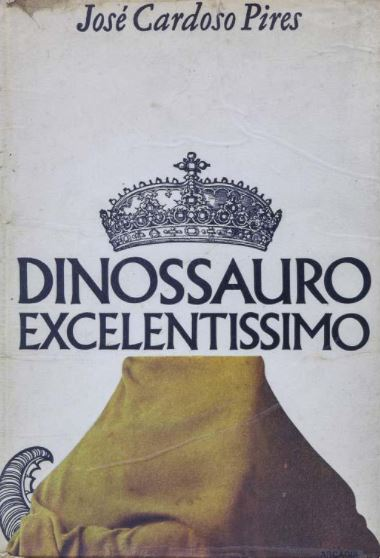
O parlamentar responde às críticas de Miller Guerra, argumentando que a circulação do livro Dinossauro Excelentíssimo prova que há liberdade em Portugal. Da autoria de José Cardoso Pires, com ilustrações de João Abel Manta, o Dinossauro é um retrato satírico da figura de Salazar e do regime autoritário do Estado Novo. Diz Casal-Ribeiro:
“V. Exa. quer mais liberdade do que aquela que nós vivemos neste momento, quando se permite, por exemplo, a saída de um livro ignóbil chamado Dinossauro Excelentíssimo?”
Segue-se uma acesa troca de palavras entre os dois Deputados, em que é retomado o tema da liberdade de expressão e da censura:
Miller Guerra: - Ora, então vamos lá, Sr. Casal-Ribeiro. O senhor falou em liberdade, não foi?
Casal-Ribeiro: - Pois foi.
Miller Guerra: - E lamentou que um livro chamado Dinossauro tenha circulado, não é verdade?
Casal-Ribeiro: - É, é!
Miller Guerra: - Eu por mim, tomara que houvesse muitos Dinossauros e muitos livros que circulassem livremente, que o espírito português não estivesse amordaçado como tem sido há tanto tempo com uma censura que tem, inclusivamente, apreendido livros de Deputados!
Casal-Ribeiro: - Mesmo quando se insulta a memória de uma pessoa que serviu a Nação? V. Exa. acha bem?
Miller Guerra: - Sim, senhor. Em segundo lugar, V. Exa. diz que há muita liberdade.
Casal-Ribeiro: - Eu não disse que havia muita liberdade.
Miller Guerra: - Não? Bom! Então há pouca.
Casal-Ribeiro: - Disse que havia a suficiente para estas publicações.
Miller Guerra: - Então, se há pouca, estamos de acordo.
Casal-Ribeiro: - Não me parece que haja assim tão pouca, mas não haverá, possivelmente, tanta quanta V. Exa. queria.
Miller Guerra: - É verdade. E também não há tão pouca como V. Exa. desejava.
Casal-Ribeiro: - V. Exa. ainda se há de arrepender, tanto como eu, das liberdades que por aí andam.
José Cardoso Pires relata mais tarde este episódio[2], dizendo que esta sessão deixou a Censura de “mãos atadas”, pois “já não podia apreender o livro que o Deputado salazarista tinha citado estupidamente como demonstração da liberdade do regime, e, menos ainda, promover a prisão do autor”.
[1] José Guilherme de Melo e Castro (1914-05 / 1972-09-27) foi Deputado à Assembleia Nacional entre as V e a X Legislaturas, pela União Nacional. Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, exerceu entre 1944 e 1947 as funções de Governador Civil de Setúbal e, mais tarde, entre 1954 e 1957, as de Subsecretário de Estado da Assistência Social. Foi ainda Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e Juiz Conselheiro do Tribunal de Contas. Considerado o mais “liberal” dirigente da União Nacional, deve-se-lhe o facto de nas listas de 1969 terem sido eleitos deputados os nomes dos mais significativos membros da “Ala Liberal”.
[2] Cardoso Pires por Cardoso Pires. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1991, p. 37.
A Lei do Serviço Militar, publicada a 11 de julho de 1968, previa no artigo 2.º que os cidadãos portugueses do sexo feminino podiam ser admitidos a prestar serviço militar voluntário. Se nesta formulação, o que chama logo a atenção é a forma como são identificadas as mulheres, não deixa de ser surpreendente que, enquanto o regime do Estado Novo mantinha as mulheres numa posição de subalternidade em termos de direitos, designadamente no domínio laboral, as tenha admitido a prestar serviço militar, ainda que em regime de voluntariado.
A iniciativa legislativa que deu origem a esta lei foi elaborada por especialistas dos três estados-maiores das forças armadas e, antes de ser debatida na Assembleia Nacional, foi apreciada na Câmara Corporativa. A discussão na generalidade desta proposta de lei na Assembleia Nacional, inicia-se no dia 9 de janeiro de 1968. O deputado Pinto de Mesquita é o primeiro a intervir e considera que esta disposição permite superar “mais um complexo feminino na aspiração da mulher de se equiparar ao homem no exercício de funções públicas.” O deputado Barbieri Cardoso intervém também sobre esta disposição, referindo que se trata de uma inovação que “embora se afigure trazer incontestáveis vantagens, ou, talvez melhor, comece a ser necessária, não deixa de nos causar hesitação e nos levar a ponderar como e até onde o serviço militar prestado pelas mulheres possa ser conduzido. A Câmara Corporativa, ao apreciar essa inovação no nosso serviço militar, deixou nitidamente transparecer o melindre que nela encontra, emitindo opinião de que certamente não se pretenderá levar a mulher portuguesa a tomar parte em ações militares de campanha, em paridade com os homens. Evidentemente que o pensamento dos autores deste projeto nunca terá sido este, não nos resta a menor dúvida de que nunca lhes passou pela mente levar a mulher portuguesa, ainda que voluntariamente, a um serviço nas forças armadas, tal como na China, em Israel ou no Vietname.”
Poderiam assim as mulheres assumir os serviços que, “por oferecerem nenhuns ou quase nenhuns riscos, colocam os homens que os desempenham em situação moral de grande inferioridade perante aqueles que lutam na frente de batalha, sempre sujeitos às traiçoeiras surpresas das emboscadas, das minas ou das armadilhas.”
Na Legislatura em que se produz este debate, a IX, a Assembleia Nacional conta com quatro deputadas: Custódia Lopes, eleita por Moçambique, Maria Ester Guerne Garcia de Lemos, por Lisboa, Maria de Lourdes Albuquerque, pela Índia, e Sinclética Soares Santos Torres, por Angola. Duas delas intervêm no debate relativo a esta questão, evidenciando posições tão ou mais conservadoras que os oradores que as antecederam, chegando a deputada Maria de Lourdes Albuquerque a referir, no debate realizado a 23 de janeiro de 1968, que “a mulher saiu do lar mais por necessidades materiais do que por um desejo de emancipação ou de distração.” Manifesta discordância com o deputado António Santos da Cunha, que, na sessão de 11 de janeiro, admite a possibilidade do serviço obrigatório para o que designa de “sexo fraco”, depois de ter referido que a mulher “disputa aos homens todos os lugares e posições, abandonou o lar e concorre com os homens na vida pública”. Maria de Lourdes Albuquerque conclui referindo que “nem sou partidária de que ela abandone o lar, mas sou com certeza extremamente favorável a que, sem prejudicar a vida do lar, ela contribua voluntariamente para a defesa e o engrandecimento da Nação.”
A deputada Custódia Lopes intervém, na mesma sessão:
“Não somos feministas a ponto de aceitar o exagerado conceito de que a mulher é igual ao homem e que, portanto, lhe cabem os mesmos direitos e idênticos deveres. (…) Não faltam às mulheres as qualidades que se requerem para os serviços auxiliares das forças armadas, e tarefas há mesmo que mais se adaptam propriamente à índole e psicologia femininas. Estão perfeitamente de acordo com a natureza da mulher os trabalhos de secretaria, dactilografia, os serviços de arquivistas, bibliotecárias, telefonistas, radiotelefonistas, mecanógrafas, contabilistas, os serviços em estabelecimentos fabris, os serviços da manutenção militar, de cozinha, de messes, dos abastecimentos, os trabalhos nas oficinas gerais de fardamento, os serviços de administração de pessoal e outros serviços especializados, dos quais destacamos os serviços de saúde, como médicas, farmacêuticas, analistas, enfermeiras e tantos outros.”
Na realidade, o que pode parecer um passo no caminho da igualdade, não é senão a resposta a uma necessidade de reforço dos meios ao serviço da defesa numa situação de guerra que se prolongava desde 1961, daí que se tenha alargado o serviço militar aos inaptos e às mulheres, porque, como é referido pelo deputado Santos Bessa, na sessão de 16 de janeiro, “muitas são as atividades em que muitos indivíduos podem dar valioso contributo para a defesa da Nação, de harmonia com as necessidades desta e com as aptidões, a idade e o sexo de cada qual.”
Evita-se assim, segundo o mesmo deputado, que se desviem das funções específicas do combate homens válidos para assegurar o funcionamento de serviços que podem ser assegurados por pessoal feminino voluntário. Refere ainda que “embora o sexo feminino venha dia a dia exuberantemente demonstrando quão desajustada lhe está a designação de «fraco», nem por isso nos agradaria vê-lo a envergar fardas e a empunhar armas, como já acontece em alguns países. O arremedo varonil destrói-lhe a graça e a feminilidade que lhe são peculiares.”

08/08/1961 - As cinco primeiras enfermeiras paraquedistas portuguesas da Força Aérea Portuguesa. © Arquivo DN.
Nem sequer a existência de enfermeiras paraquedistas desde 1961, várias vezes mencionadas durante o debate, altera a forma como são percecionadas a mulher e as funções que pode exercer durante a prestação do serviço militar. O Deputado Cutileiro Ferreiro refere-se a elas, dizendo o seguinte:
“Só quem já as viu partir, na fragilidade de um helicóptero, rumo ao desconhecido, poderá compreender o que existe de grande e nobre na sua missão. Custa-me a compreendê-las, mas admiro-as. Não as entendo, mas respeito-as.”
A proposta de lei sofre poucas alterações, tendo o artigo 2.º sido aprovado com a redação proposta.
Na sessão da Assembleia Nacional de 3 de abril de 1944, o Deputado Querubim Guimarães dirige-se ao Ministro do Interior, Mário Pais de Sousa, elogiando-o pela forma como tem atuado “em favor da manutenção da ordem e da repressão dos costumes” e no sentido “de moralizar, orientar e ordenar a vida social e a vida política do País”.
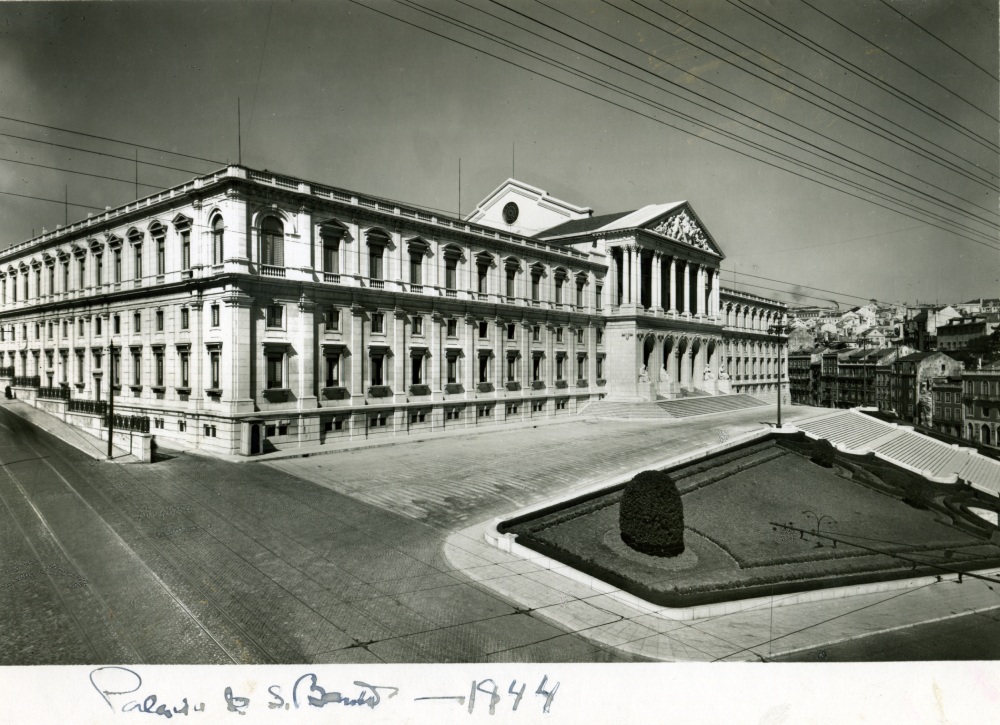
Fachada principal do Palácio de São Bento, Bertrand & Irmãos, Lda., 1944, Arquivo Fotográfico da Assembleia da República.
Ao elogio, segue-se um alerta sobre a proliferação no país de “literatura muito estranha” e um apelo para a censura prévia de publicações “nocivas”, contrárias à “tradição cristã” e de pendor “comunizante”.
A título de exemplo, cita um artigo das Seleções do Reader’s Digest, dedicado ao problema da escassez de maridos nos Estados Unidos, em que o autor conclui que “o sistema de um marido para cada mulher só existe realmente quando o número de homens é suficiente para torná-lo possível", depois de referir que "em alguns países da Europa, mesmo na Inglaterra, era grande o número de mulheres que, por se não terem podido casar, recorriam aos maridos das outras".
O Deputado Querubim Guimarães considera que o autor deste artigo “de sexo indeterminado, que tem um nome muito extenso, chamado Amram Schimfeld”, difunde “prenúncios alarmantes da invasão comunizante que vem lá do Oriente”, que põe em causa a “tradição que impõe obrigações restritas a todos os Portugueses na orientação superior de uma moral social inequívoca”.
Considera que proliferação desta literatura, consumida por “senhoras, mulheres, famílias, jovens” é um sinal de que “a estrela vermelha vem marchando para o Ocidente, proporcionando-nos, porventura, amargas horas no futuro”.
O Deputado apela, assim, ao Ministro que tome medidas “contra esta prática abusiva da importação de uma literatura perniciosa, que está a pedir lazareto, como acontece com os empestados...”.
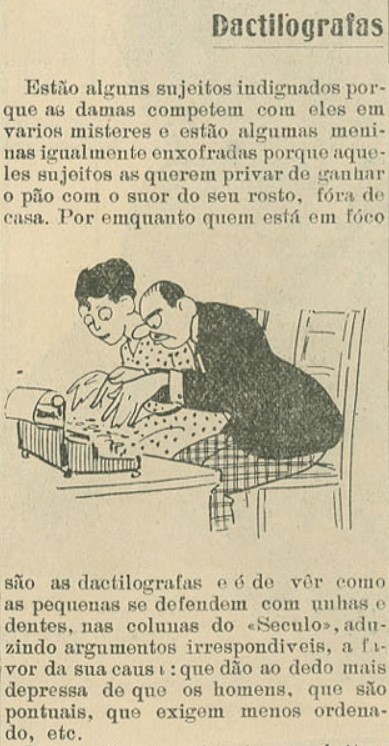
"O Século Cómico", 30 de agosto de 1920.
Na
sessão de 2 de março de 1926 do Senado da República, Ribeiro de Melo apresenta um
projeto de lei para a demissão dos funcionários públicos do sexo feminino, justificando que a presença de mulheres nos Ministérios “faz afronta à opinião pública pelo facto de não possuírem as habilitações literárias indispensáveis ao exercício de funções e bem assim por não terem sido escolhidos entre os que possuíssem a mais perfeita educação e abonadas por um passado de boa moral e de bem conhecida educação familiar.”
De acordo com o Senador, a contratação de mulheres tem origem em favores políticos, prejudicando homens “dedicados e honestos funcionários públicos”. Critica ainda o aumento de funcionárias nos vários Ministérios, oriundas do extinto Ministério dos Abastecimentos, como fator de agravamento da situação económica do país.
A iniciativa de Ribeiro de Melo prevê, entre outras medidas, a demissão das mulheres que não façam prova das suas habilitações literárias, a supressão da carreira de datilógrafa e consequente demissão das funcionárias que preencham esses lugares e o pagamento único de 1000$00 às empregadas demitidas.
O Senador entende o seu projeto como uma reparação dos erros cometidos na contratação de funcionários públicos pela República, por exemplo, como forma de compensação às famílias dos combatentes. Denuncia a proteção excessiva das mulheres empregadas nos Ministérios, originando uma concorrência desleal com os homens:
“A proteção aos funcionários do sexo feminino tem sido tão grande que se as faltas que cometem fossem cometidas por funcionários do sexo masculino, jamais estes poderiam conseguir a sua readmissão a não ser por via duma lei de favor igual às muitas que nós temos votado.”
Negando ser antifeminista, denuncia as irregularidades na contratação de mulheres sem competências para exercerem funções públicas, apenas como “prémio de honra militar devido aos pais, aos irmãos ou ainda aos antepassados mais próximos”, transformando o Estado em asilo “onde se [acolhem] numa promiscuidade tamanha homens e mulheres em plena força da vida, entre 22, 25 e 30 anos”.
Na resposta, o Senador Medeiros Franco insurge-se contra o projeto de lei, que classifica de “antiquado” e “atentatório da dignidade da mulher”, condenando-a “a ser apenas doméstica” e negando-lhe “um lugar na vida pública que ela tem conquistado pelo seu valor e pela sua moral”.
Defende que não compete ao Parlamento demitir funcionários, com o objetivo de reduzir a despesa do Estado. A demissão dos funcionários deve ser fundamentada através de processo disciplinar, independentemente do sexo, “pois há muitas mulheres que produzem mais do que funcionários do sexo masculino”. Acusa ainda Ribeiro de Melo de procurar apenas atingir as mulheres, ao invés de propor uma reestruturação do funcionalismo público.
O Senador Medeiros Franco termina ironizando sobre o pagamento de 1000$00, “de uma só vez, e num só dia”, às mulheres despedidas:
“O ilustre Senador quer renovar as bichas, indo os funcionários do sexo feminino, no dia em que isto seja posto em vigor, receber todos juntos o seu prémio de consolação...
(…)
Mas naturalmente pretende V. Ex. fazer substituir as datilógrafas por datilógrafos.”
O debate continua na
sessão do dia seguinte com o Senador Fernando de Sousa a manifestar-se contra o projeto de lei, apesar de reconhecer nos seus princípios o intuito louvável de “moralizar a administração pública e de remediar males verdadeiramente escandalosos”:
“Poderíamos em rigor admitir o princípio salutar de administração contido no projeto, mas tínhamos de generalizar a sua aplicação em proporções extraordinárias, pois que haveria de olhar à invasão de milhares de funcionários que sucessivamente entraram por favor e de roldão por todas as repartições públicas sem merecimentos, nem habilitações, a ponto de nem haver lugares que ocupassem.”
O Senador manifesta a sua indignação contra “a invasão dos bandos de datilógrafas”. Relata um episódio em que “três ou quatro meninas de saia curta e corpete decotado” escreviam à máquina, entre “grande galhofa”, num gabinete no Ministério dos Abastecimentos. Comenta que “era tal a risota lá dentro que parecia que havia ali um viveiro de canários, tal a alegria e desafogo joviais dessas meninas”. Mas, logo de seguida, opõe-se à generalização a partir deste caso, referindo a existência de datilógrafas sérias e qualificadas, e critica o afastamento das mulheres de determinados cargos:
“De modo algum posso perfilhar o feminismo revolucionário, que faz da mulher uma virago emancipada, mas há um feminismo cristão que respeita a dignidade e os direitos da mulher na vida de família, e na sociedade civil. Esse professo-o, e por isso não posso perfilhar censuras e recusa em absoluto à mulher de ocupar certos lugares.”
Seguem-se outras intervenções enaltecendo, por um lado, o propósito da iniciativa de remodelar o funcionalismo público, mas, por outro, acusando o radicalismo e a violência na forma como fora apresentada.
O autor do projeto volta a defender a sua posição “de um republicano que quer a masculinização dos serviços públicos e não quer a promiscuidade” e termina o seu discurso afirmando:
“Os homens têm uma função mais alta que as mulheres, porque são eles que precisam de arranjar o sustento de seus filhos e dispensar a sua proteção às mulheres.”
O projeto de lei de Ribeiro de Melo é rejeitado, tal como a
moção apresentada, no mesmo debate, pelo Senador Querubim Guimarães, apelando ao Governo para não protelar a remodelação do funcionalismo público.
Cerca de três meses depois, o Parlamento é encerrado na sequência do Golpe Militar de 28 de Maio de 1926, que põe fim ao período da I República.
Apesar da invisibilidade de parte do trabalho feminino, nos finais do século XIX e princípio do século XX, a proporção de mulheres na população ativa em Portugal entre 1900 e 1930 era de 27,9%
1.
O Decreto n.º 4676, de 19 de julho de 1918, que reconheceu às mulheres licenciadas em direito o exercício da profissão de advogado, ajudante de notário e ajudante de conservador, mencionava o seguinte no preâmbulo:
«Exercem já agora a clínica, são professoras em escolas primárias, secundárias e superiores, entram nos serviços públicos telégrafo-postais, e no quadro dalgumas repartições públicas, reconhecido assim pelo Estado o direito das mulheres a serem consideradas como seus funcionários. (…) Tão só se não deverá perder de vista que, iguais embora em capacidade de inteligência e de trabalho, há, contudo, funções de direção e de iniciativa que naturalmente estão reservadas para o homem».
Seis anos depois, a 15 de janeiro de 1924 no Senado da República, é anunciado um projeto de lei, da iniciativa do Senador Ribeiro de Melo, que propõe a demissão de todos os empregados do sexo feminino dos serviços dos Ministérios.
No mês seguinte, o autor desta iniciativa intervém sobre esta matéria, mencionando um artigo publicado no jornal A Tarde, sobre a reforma do Instituto de Seguros Sociais, em que é referido que foram colocados na situação de adidos funcionários do sexo masculino, ficando nas secretarias desse Instituto empregados do sexo feminino. Concordando com a medida, dado que era público que havia um número excessivo de funcionários públicos, defende que sejam colocados na situação de adidos, embora com vencimento, os empregados do sexo feminino, deixando nas Secretarias de Estado os funcionários do sexo masculino. Isto porque considera que há conveniência em dar preferência aos empregados do sexo masculino, dado que «as mulheres, em geral, desde que não tenham uma ocupação em serviços do Estado têm a sua casa para tratar, ao passo que os homens, não há forças humanas capazes de os conservar em casa, a não ser por doença».
Na legislatura seguinte, em março de 1926, o mesmo Senador renova a iniciativa, considerando que ainda se justificava mais a sua apresentação e aprovação do que na legislatura anterior. No projeto de lei propõe a «demissão de todos os empregados do sexo feminino que não provassem ter as habilitações literárias exigidas para os concursos de terceiro oficial dos Ministérios onde estão empregados, bem como os empregados do sexo feminino contratados como datilógrafos, sendo os lugares suprimidos». O mesmo projeto prevê ainda o abono de uma verba a atribuir uma única vez, a título de compensação.
As razões para o elevado número de mulheres contratadas resultavam, segundo refere, da mobilização dos homens para combaterem na Grande Guerra e depois, da necessidade de assegurar a subsistência de viúvas e filhos de combatentes mortos.
No debate então realizado, o Senador Fernando de Sousa do partido monárquico, manifesta discordância do projeto por não parecer justa a demissão em massa de muitas funcionárias dignas (de notar que é o único a designar o cargo no feminino), parecendo-lhe mais adequado remodelar os quadros dos serviços públicos. Na intervenção, não deixa, contudo, de contar um episódio a que assistiu e que designa de «picante»:
«Em 1919, tendo de tratar de um assunto no Ministério dos Abastecimentos, fui ali. O Ministro ainda não estava. Aguardei a sua chegada no gabinete dos secretários.
A folhas tantas vi entrar um grupo de três ou quatro meninas de saia curta e corpete decotado, enigmas pitorescos que pouco deixavam para adivinhar. Abancaram para concertar os termos em que deviam fazer uma representação pedindo que fosse levantada a suspensão de um empregado. Concertados no meio de grande galhofa os termos da representação, entraram para o gabinete do Ministro para escrever à máquina e era tal a risota lá dentro que parecia que havia ali um viveiro de canários, tal a alegria e desafogo joviais dessas meninas. Isto e muitos outros casos análogos são realmente escandalosos!
Querer de uma penada suprimir todos esses lugares, além de injustiça, parece--me violência. Não esqueçamos que nessa legião de dactilógrafas, se algumas há por cuja seriedade não se poderão pôr as mãos no fogo, outras merecem todo o respeito, pois são excelentes funcionárias e têm anos de bons serviços.
Sr. Presidente: o que importa é rever os quadros e diplomas relativos à admissão de funcionários. Hoje parece que os do sexo masculino quase não têm de fazer; tantas dactilógrafas se admitem que dir-se-ia terem eles apenas que se limitar a ler o que elas escrevem».
Apesar de alguns Senadores concordarem com o excesso de funcionários públicos e com a necessidade de moralização dos serviços públicos, rejeitaram o projeto de lei, bem como uma moção apresentada pelo Senador Querubim Guimarães, que recomendava ao Governo que remodelasse os serviços públicos, por entenderem que já o estava a fazer.
Ana Vargas
[1] Fonte: Recenseamentos Gerais da População, citado no artigo «As Mulheres trabalhadoras em Portugal (1890-1970): as representações sobre o trabalho remunerado e o trabalho não remunerado numa perspetiva feminista», Virgínia Baptista e Paulo Marques Alves, XIV Jornadas Nacionais da História das Mulheres – IX Congresso Iberoamericano de Estudios de Genero, 29 de julho a 1 de agosto de 2019.
No dia 29 de março de 1922, na Câmara dos Deputados, o Deputado Rodrigo Rodrigues
propõe que seja consultada a Câmara para saber se permite que, na véspera do que designa de «raid de aviação ao Brasil, levado a efeito por dois dos nossos mais distintos marinheiros», seja manifestada toda a nossa admiração pelo seu ato que representa uma glória para Portugal.
Ao voto associam-se Deputados em representação do Partido Reconstituinte, do Partido Republicano Liberal, da minoria monárquica e Deputados independentes. Em sentido diametralmente oposto, intervém o Deputado Alberto Xavier, que, apoiando-se numa carta que o próprio Sacadura Cabral havia enviado na véspera à imprensa, considera que o Governo não pode associar-se a uma «tentativa desta natureza, que implica despesas exorbitantes». Apesar de louvar a coragem dos aviadores, defende que o «Governo não pode tomar a responsabilidade de subsidiar financeiramente essa viagem, sem saber se ela terá as maiores probabilidades de êxito». Esta intervenção merece reiterados apartes de «Não apoiado».
Recorde-se que poucos meses antes tinha ocorrido a
Noite Sangrenta, após a revolta militar de 19 de outubro de 1921. À crise económica resultante da participação na I Guerra Mundial, soma-se a crise política, aumentando o ambiente de instabilidade e desânimo que se vive no país, o que justifica o apoio quase generalizado que é dado ao projeto da travessia aérea do Atlântico sul.
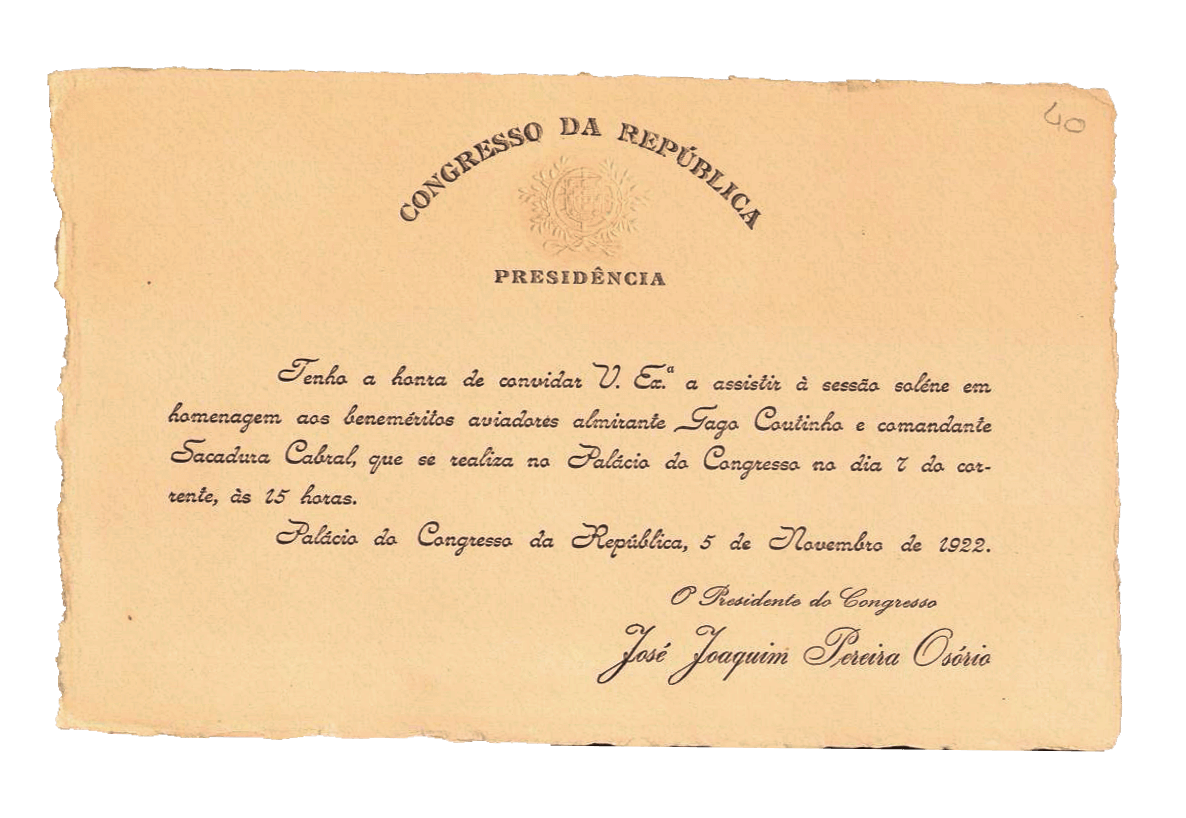
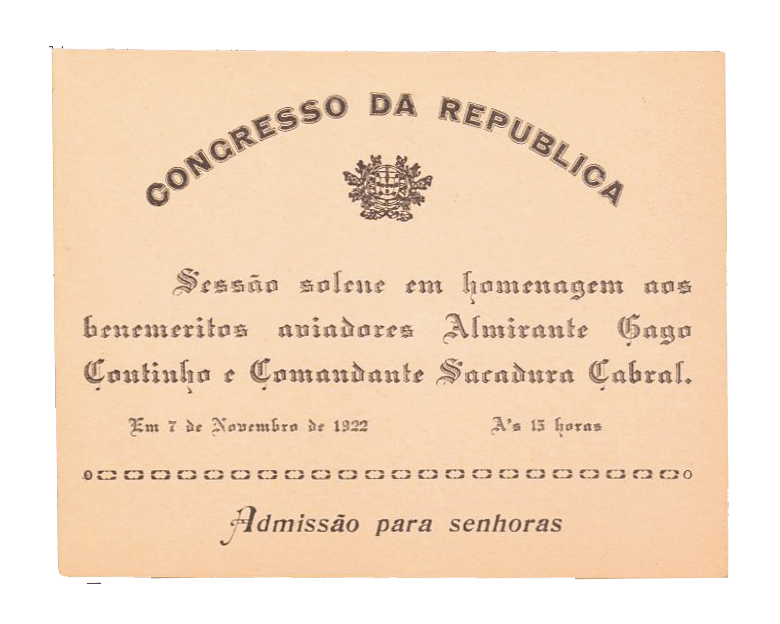
Às 7h00 da manhã do dia 30 de março de 1922, Gago Coutinho e Sacadura Cabral partem de Belém, num hidroavião. A 27 de junho, mais tarde do que previsto, aterram no Rio de Janeiro. Apesar do atraso e da perda de dois aviões, a viagem é um êxito, celebrada nos dois lados do Atlântico.
A 7 de novembro do mesmo ano, o Congresso realiza uma Sessão Extraordinária em homenagem aos Senhores Gago Coutinho e Sacadura Cabral. A sessão obedece a um cerimonial prévia e cuidadosamente preparado, a que não faltaram convites enviados pela Presidência, incluindo os destinados à «admissão para senhoras».
No programa, assinado pelo Presidente do Congresso, para além da organização da sessão que inclui cortejo no início e fim, prevê-se que «a distribuição de bilhetes para assistir a esta solenidade será feita pelo Diretor Geral do Congresso nos dias 5 e 6 do corrente». São também dadas instruções concretas quanto ao policiamento interno e externo por ocasião da sessão.
No dia da Sessão Solene, segundo o jornal oficial do Parlamento, quando os aviadores entram na sala, toda a «assistência se levanta. Aplausos gerais. Palmas. Calorosos vivas aos homenageados, à República do Brasil, à Pátria e à República Portuguesa. A manifestação prolonga-se durante alguns minutos».
O Presidente do Congresso, José Joaquim Pereira Osório, faz a
alocução inicial considerando que não podiam os «parlamentares do Congresso da República deixar de se associar às gerais e entusiásticas manifestações do Povo Português, de quem são representantes eleitos, promovendo esta sessão solene em honra exclusiva dos seus bravos e heroicos marinheiros. É o máximo que o Parlamento vos pode oferecer, nunca ofereceu mais, nem melhor, a quem quer que fosse».
Antes de concluir, refere ainda que tem a «intuição de que o grandioso feito que tão gloriosamente levastes a cabo marcou na História Pátria o termo das nossas desditas, empurrando-nos para a vertente oposta do nosso calvário».
As intervenções sucedem-se, comparando os aviadores aos navegadores quinhentistas e considerando que, como refere Cunha Leal, «esta empresa veio na hora própria do desânimo e da desconfiança sobre os destinos da nossa Pátria, que já foi tão grande, hora em que os portugueses começavam a cruzar os braços numa desconsoladora inércia».
Antes interviera o membro do Congresso, Júlio Ribeiro, que gerara uma grande ovação na sala e na galeria ao referir: «Assim, Gago Coutinho e Sacadura Cabral (…) mostraram, heroicamente, numa audácia genial, que a nossa raça, em querendo, hoje como sempre, se alça acima de todas as civilizações (…) devendo ser o nosso ressurgimento nacional. — De ora avante, quem quiser ensombrar a bandeira de Portugal, há de primeiro escurecer o sol!...».
Depois dos membros do Congresso e do Ministro da Marinha, é concedida a palavra ao Comandante Sacadura Cabral, não constando, contudo, a intervenção que faz no jornal oficial do Parlamento, mas de que há, felizmente, registo escrito.
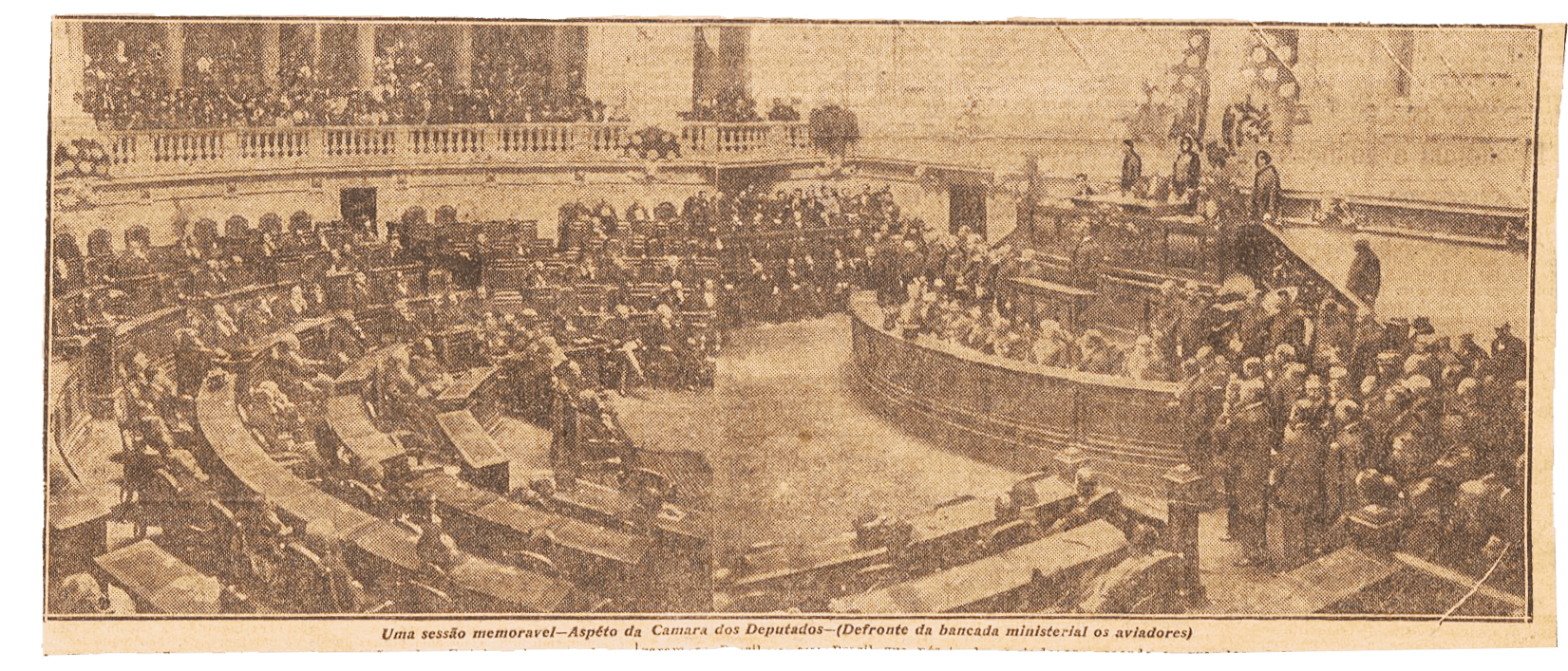
Depois de agradecer as honras que lhes são atribuídas e garantir que apenas pretende regressar «à obscuridade de onde saiu», conclui dizendo:
«Acreditai que sinceramente lamentamos mais não ter feito para merecer essa grande recompensa, mas como a vossa generosidade é grande, permiti-me que, numa súplica ardente, onde ponhamos toda a nossa alma enternecida, exclamemos: tornemos digna e grande esta Pátria, que é de todos nós».
É também no rascunho do jornal oficial que podemos ler a reação a este discurso:
«É um delírio: As senhoras, arrancando os crisântemos dos maciços das galerias atiraram com eles para a sala, as palmas não cessam e os vivas intensificam-se por muito tempo.
Finalmente encerra-se a sessão.
À saída, os aviadores foram acompanhados até à porta do edifício da Câmara com o mesmo cerimonial da entrada, foram de novo, delirantemente ovacionados pela compacta multidão que, por completo enchia os passeios».
Ana Vargas
A participação de Portugal na I Grande Guerra (1914-1918) agravou de forma severa as condições de vida da população, provocando a escassez e as dificuldades de abastecimento de géneros alimentares, nomeadamente do pão.
A 22 de fevereiro de 1917, era publicado um decreto que pretendia responder à crise na distribuição de cereais panificáveis no país, autorizando o Governo a requisitar a farinha existente nas moagens de Lisboa. No dia seguinte, a Portaria n.º 887 determinava que em Lisboa apenas se podia fabricar um único tipo de pão com farinhas de trigo e de milho, em parte iguais. Mais tarde, seria ainda proibido o fabrico de pastéis e bolos na capital.
O Século Cómico, de 19 de março de 1917, refere a passividade do povo perante o “pão-broa igualitário” ou “pão-pedra”:
“Berrámos a princípio (…) fizemos ao princípio as caretas que o caso requeria; custou-nos a triturar o primeiro quilograma da pétrea mistura; vomitámos dois ou três dias – mas acabámos pela resignação”.
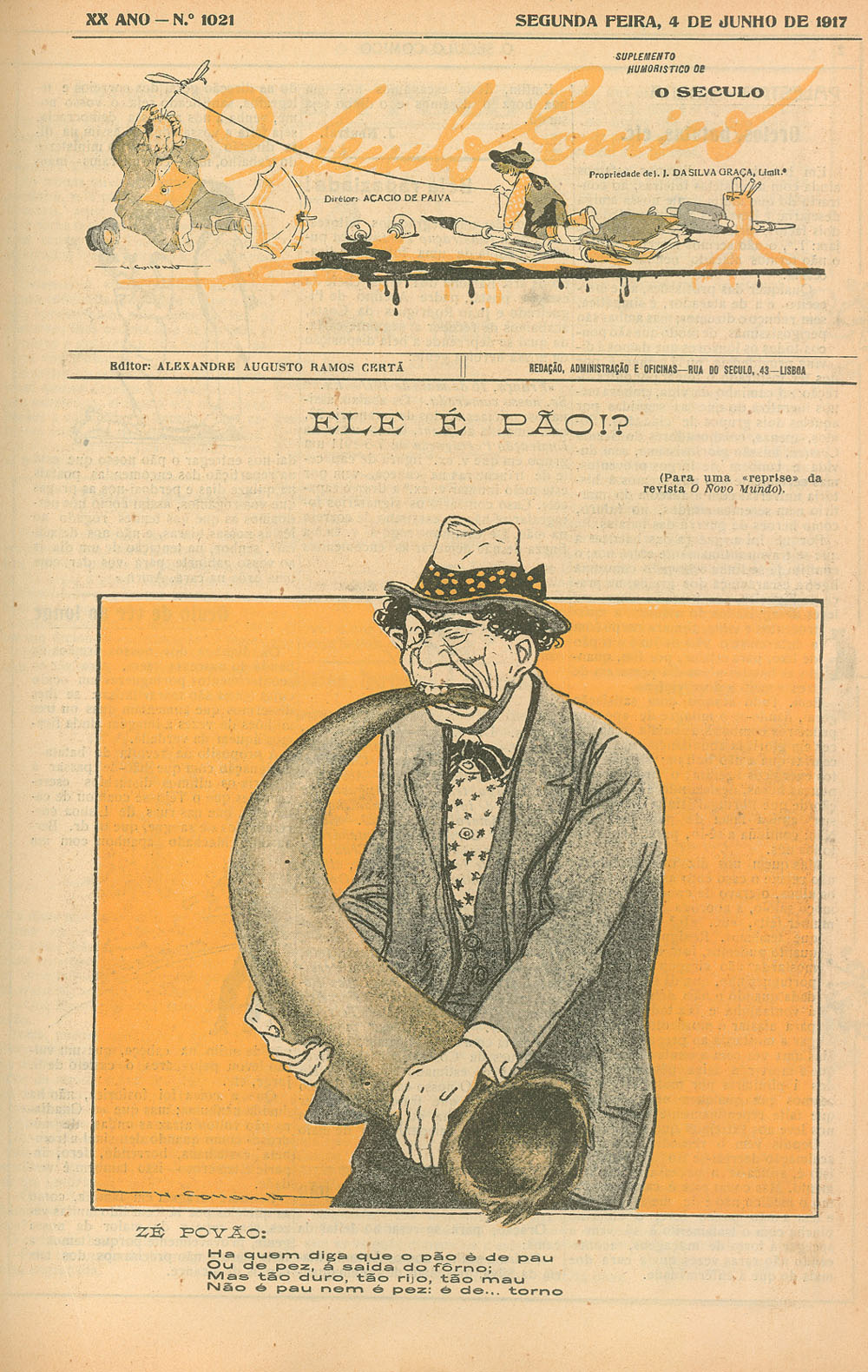
Hemeroteca Digital.
No entanto, os protestos contra o “pão igualitário” e a falta de qualidade na sua confeção tiveram eco no Parlamento.
A 17 de abril, o Deputado Alberto da Silveira apresentava o “caso da broa”, denunciando que a população de Lisboa era forçada a comer broa de milho “confessadamente avariado”.
Depois de ser repreendido por insinuar que os ministros se abasteciam de pão de trigo fora de Lisboa, desculpa-os, dizendo que “as senhoras, na sua simplicidade, podiam muito bem pedir aos chauffeurs que trouxessem o pão branco de trigo”, sem o conhecimento dos maridos.
Por fim, confessa ter pedido a uma pessoa amiga que lhe trouxesse pão de Algés, o que acha natural, pois não compreende que “os estômagos dos indivíduos de fora de Lisboa tenham mais direitos” do que o dele.
A crise dos abastecimentos seria agravada nos meses seguintes e culminaria na Revolta da Batata, em maio de 1917, com assaltos populares a mercearias, padarias e outros estabelecimentos comerciais da região de Lisboa.
Na origem dos incidentes terá estado o aumento súbito do preço da batata, alimento muito procurado pelas classes mais desfavorecidas, devido à escassez de pão.
Os tumultos, reprimidos pelas forças da autoridade, resultaram em cerca de 500 presos, a maioria operários, e 40 mortos.
Em 1914, as associações comerciais e industriais de norte a sul, representando a maior parte das forças económicas do país, pedem ao Senado a suspensão do decreto n.º 224, de 17 de novembro de 1913, que determina várias medidas de fomento para a província de Angola, alegando que as disposições desse diploma teriam por consequência inevitável a “desnacionalização da província de Angola e põem em risco desde já os interesses industriais e comerciais da metrópole nas suas relações com aquela colónia.”
O parecer relativo a este pedido, que conclui propondo a suspensão do decreto, é sujeito a ampla discussão, que se inicia a 2 de março de 1914.
O Senador Bernardino Roque é o primeiro a intervir no debate sobre o parecer e considera que “hoje não se fazem conquistas coloniais pelas armas. Essa forma de conquista passou, o meio é mais pacífico e proveitoso. As conquistas hoje fazem-se por processos económicos. Se a província de Angola sofrer a influência económica da Alemanha, poderemos nós ficar com o domínio político, que só traz despesas; mas a Alemanha ficará com o domínio económico que traz o proveito sem os encargos da posse política.”
Na reunião do Senado de 6 de março, prosseguindo o debate sobre o parecer, o Senador Bernardino Roque reitera a sua oposição ao decreto:
“Facilitem-se ao estrangeiro todos os meios para a sua expansão comercial, mas não nos prejudicando a nós.”
Na Sessão seguinte, a 9 de março de 1914, o Senador Pedro Martins faz uma intervenção sobre o “convénio, entendimento, ou como melhor deva chamar-se-lhe entre a Inglaterra e a Alemanha, sobre a partilha entre elas de Angola e Moçambique, (que) corre há anos as colunas da imprensa estrangeira e nacional”.
O Governo responde pela voz de Bernardino Machado, então Presidente do Ministério, Ministro do Interior e, interino, dos Negócios Estrangeiros:
“O que é necessário é que nós, certos da amizade da Alemanha e da Inglaterra, façamos tudo para consolidar os laços, que nos ligam a essas duas grandes nações, e, se temos grandes deveres a cumprir perante o mundo, é necessário cooperar com elas na civilização colonial.
Todos estamos dispostos a cumprir esse nosso dever e a prova foi a aceitação unânime que o Senado deu à proposta do Governo para o governador de Moçambique.
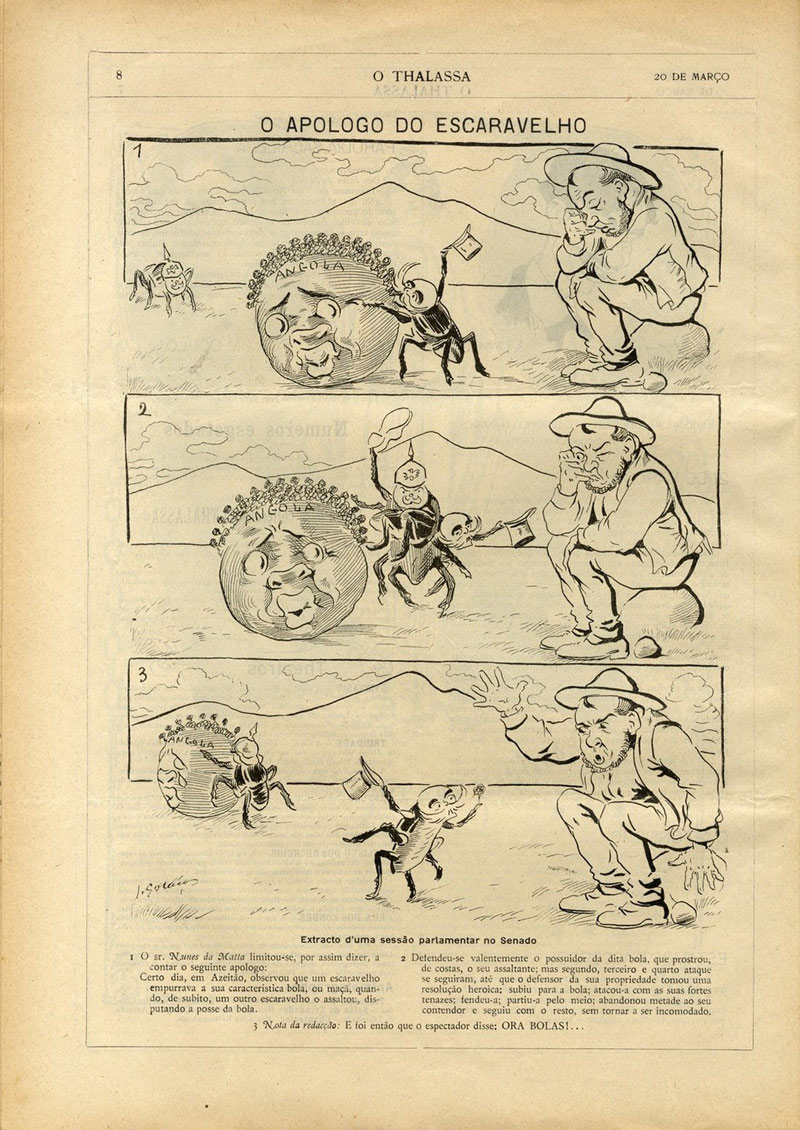
“O Thalassa”, 20 de março de 1914, Hemeroteca Municipal de Lisboa.
Isso quer dizer que todos estamos dispostos a unanimemente cooperar no desenvolvimento da civilização colonial.”
O Senador Cupertino Ribeiro intervém, citando a intervenção precedente e referindo que o que deseja é que “as nossas colónias sejam colonizadas por portugueses, que os hábitos que lhe imprimirmos sejam bem portugueses”. Prossegue, lendo uma notícia, que não é transcrita no Diário das Sessões, e conclui dizendo “como se vê, a questão é séria e nós vemos que agentes de toda a ordem se introduzem nas nossas colónias, fazendo propaganda terrível contra a nossa fraqueza e falta de energia para as manter. Devemos fazer ver que isto não é assim. Mas pelo caminho que vamos seguindo, receio que sejam fundados os receios e eles se traduzam em factos graves.”
É então que o Senador Nunes da Mata pede autorização ao Presidente para relatar um facto curioso e instrutivo, que presenciou na estrada que vai de Azeitão à Arrábida, em que foram protagonistas dois mesquinhos escaravelhos:
“Um pequeno escaravelho fazia rolar na estrada uma bola de excremento, que contente levava para o seu ninho, a fim de dentro dela depor os seus ovos, quando um outro escaravelho lhe saiu ao encontro, a disputar-lhe o, para ele, precioso fardo.
O dono deste subiu acima dele, e, empurrando o inimigo com as patas e serrilha, atirou-o de costas, fugindo em seguida e empurrando precipitadamente a sua querida bola.
Mas o outro escaravelho não desistiu, e voltou ao ataque mais vezes, repetindo- -se os combates anteriores.
Por último, o dono da bola, vendo que não podia defender-se do pertinaz inimigo, depois de o repelir com energia, dirige com a sua serrilha um golpe brusco contra a sua bola, divide-a ao meio, e toma conta de metade, deixando a outra metade ao seu contendor.”
Remata a história dizendo:
“Deixo, Sr. Presidente, ao Sr. Cupertino Ribeiro e ao Sr. Bernardino Roque o cuidado de aplicar ao assunto a lição de boa prudência dada pelo atilado escaravelho.”
 Artigo sobre a lei do divórcio, com o texto integral.
Diário de Notícias, 4 de novembro de 1910, Hemeroteca Municipal de Lisboa.
Artigo sobre a lei do divórcio, com o texto integral.
Diário de Notícias, 4 de novembro de 1910, Hemeroteca Municipal de Lisboa.
Menos de um mês depois da Revolução de 5 de Outubro de 1910, que implantou a República, o Governo Provisório da República Portuguesa publica o
decreto com força de lei, de 3 de novembro, estabelecendo o divórcio. O decreto, assinado entre outros, por Joaquim Teófilo Braga, António José de Almeida, Afonso Costa, José Relvas e Bernardino Machado, prevê o divórcio litigioso e por mútuo consentimento. Portugal é então o segundo país europeu – depois da Noruega – a consagrar o divórcio por mútuo consentimento
1.
O decreto prevê a sua apreciação pela próxima Assembleia Nacional Constituinte e a incorporação na reforma do Código Civil e do Código do Processo Civil. A 27 de dezembro do mesmo ano, são publicados dois decretos com força de lei, emanados do Ministério da Justiça, o primeiro sobre casamento como contrato civil e o segundo sobre proteção aos filhos. O
Decreto n.º 1 define o casamento como um contrato puramente civil e que se presume perpétuo, sem prejuízo da sua dissolução por divórcio.
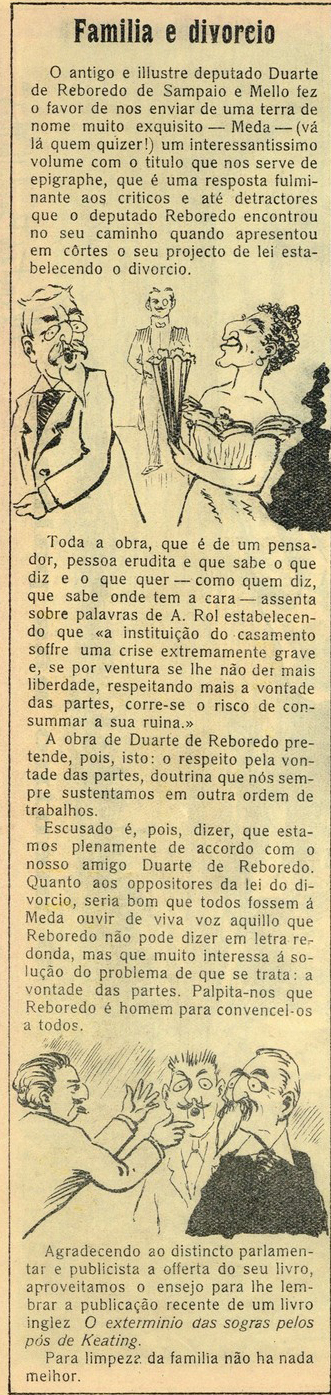 Sobre o livro do Deputado Reboredo de Sampaio e Mello que visa responder aos detratores da sua iniciativa sobre o divórcio.
A Paródia, ano 6, n.º 175, 29 de dezembro 1906, Hemeroteca Municipal de Lisboa.
Sobre o livro do Deputado Reboredo de Sampaio e Mello que visa responder aos detratores da sua iniciativa sobre o divórcio.
A Paródia, ano 6, n.º 175, 29 de dezembro 1906, Hemeroteca Municipal de Lisboa.
Apesar de a Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, na qual participavam, entre outras, Ana de Castro Osório, Carolina Beatriz Ângelo e Adelaide Cabete, pugnar pelo sufrágio feminino, a maior ênfase da sua atuação é posta na revisão das matérias reguladas pelo Código Civil, como o divórcio, a proteção dos filhos e a administração dos bens do casal, questões que afetavam a vida de milhares de mulheres.
Tanto assim é que, ainda durante a Monarquia, o Deputado Reboredo de Sampaio e Mello
intervém na reunião da Câmara dos Deputados, de 19 de maio de 1908, lembrando que nove anos antes, tinha apresentado um projeto de lei estabelecendo o divórcio em Portugal, incluindo por mútuo consentimento, que foi enviado para a comissão de legislação civil para dar parecer, o que nunca aconteceu.
De acordo com o Deputado, é para “(…) a mulher que é principalmente o divórcio. O homem, pela sua mais ampla liberdade de ação e dos amores fáceis e transitórios que a sociedade lhe não censura, pode remediar em grande parte os dissabores de uma união conjugal malsucedida. A mulher só pelo divórcio e pela nova união matrimonial pode libertar-se de um casamento desgraçado, realizar os seus sonhos e desejos de felicidade que o amor lhe desperte e a que tem direito como o homem, e sair assim da falsa situação social que o mundo lhe cria fora do casamento.
Também ela não deixa nunca de votar pelo divórcio em todos os congressos feministas, provando as estatísticas que é ela que principalmente recorre a ele, porque é ela que principalmente precisa dele.
A separação de pessoas e bens não é suficiente para obviar a essas falsas e intoleráveis situações conjugais. Ela é imoral e absurda, porque decreta uma simples separação de corpos aonde há uma separação de almas e porque impede as novas uniões, filhas do amor ou da afeição que possam trazer ao homem ou à mulher a felicidade que não encontraram na primeira, e ainda por que, impedindo essas segundas uniões legítimas, conduz à prostituição e ao nascimento de filhos adulterinos, vítimas inocentes dos preconceitos sociais.”
Apesar do pioneirismo português relativamente a esta matéria, trinta anos depois da publicação do decreto que permite o divórcio, litigioso e por mútuo consentimento, em 1940, é assinada e ratificada a
Concordata celebrada com o Vaticano, que volta a dar efeitos civis ao casamento católico, interditando nestes casos o divórcio.
Ana Vargas
[1] Torres, Anália Cardoso,
O Divórcio em Portugal, Ditos e Interditos, Oeiras, Celta Editora, 1996, p. 31 e ss.
No início do século XX, o direito ao descanso semanal era uma das causas republicanas, mas foi um deputado monárquico que, em 1907, apresentou uma iniciativa nesse sentido, no entendimento de que “aqueles que mais descansam são também aqueles que mais trabalham”.
Na sessão de 1 de fevereiro de 1907, o Deputado Carlos Lopes de Almeida apresentava o projeto de lei que determinava, com algumas exceções, o seguinte:
“O descanso é semanal;
É decretado em favor dos empregados da indústria e do comércio;
Esse descanso é de 24 horas consecutivas;
É simultâneo para os empregados de uma mesma empresa;
O dia a ele destinado é o domingo.”
O republicano António José de Almeida usa da palavra sobre esta matéria, começando por atribuir o agravamento do seu ataque de influenza “à inqualificável violência que o Governo praticou obrigando-nos, na última sessão, a estar enregelados nesta casa até altas horas da noite.”
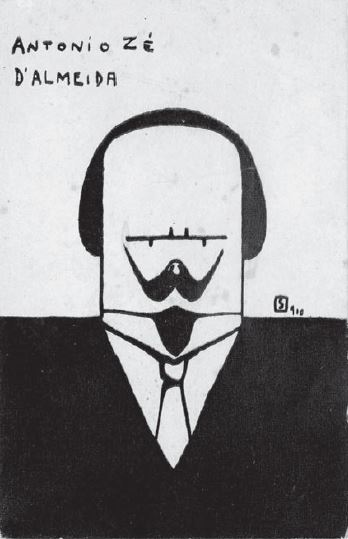
Caricatura de António José de Almeida, da autoria de Sanches de Castro, 1910, Arquivo Histórico Parlamentar.
Justifica ainda o facto de não ter apresentado um projeto de lei sobre esta reivindicação republicana, por saber “que o que sai dos Deputados republicanos leva em si próprio um fermento de morte.”
Associando-se à iniciativa apresentada pelo deputado monárquico, António José de Almeida faz, no entanto, algumas considerações e apresenta algumas propostas de alteração.
Em primeiro lugar, defende a extensão da lei aos territórios ultramarinos, pois “em África, mais do que em parte nenhuma, é preciso poupar o organismo de quem trabalha, dando-lhe folgas apropositadas e ensejos de compensação”, assim como a sua aplicação também aos trabalhadores de raça negra.
António José de Almeida considera que as pastelarias e as confeitarias devem fechar ao domingo, pois “não há razão para conservar abertos esses estabelecimentos que não são de géneros essenciais à vida”.
No entanto, as lojas de fotografias devem ter permissão para abrir ao domingo, exceto as fotografias de luxo, pois “a sua clientela de gente endinheirada e de ociosos desocupados, pode muito bem fotografar-se aos dias de semana.”
Mas as pequenas casas devem abrir, pois “o caixeiro, o operário, o pequeno empregado” só se pode fotografar ao domingo e, entende o Deputado republicano, a “permuta de fotografias é um dos mais poderosos elementos de cordialidade humana e uma das melhores maneiras de radicar nas sociedades o espírito de fraternidade”.
Quanto às fábricas de gelo podem estar fechadas ao domingo, devendo ser permitida a venda de gelo no dia de descanso semanal, por se tratar de um artigo de primeira necessidade.
Mas são as barbearias a ocupar grande parte do discurso de António José de Almeida, consideradas “um grande elemento de convívio social, visto o contacto permanente em que se encontra com toda a gente, tornando-se assim um poderoso fator na comunicação das ideias”. As lojas de barbeiro devem ter permissão para abrir ao domingo, pois os operários saem tarde das fábricas ao sábado e entram cedo à segunda: “Quando têm eles tempo de fazer a sua toilette capilar? Só ao domingo.”
Refere ainda que em Lisboa há duas correntes a este respeito, com os “barbeiros dos bairros ricos” a quererem fechar e os outros a quererem transferir o dia de descanso para segunda-feira.
António José de Almeida considera que se pode conciliar as duas posições, pois "na classe dos barbeiros o patrão é uma entidade pouco opressiva (…) naquela indústria não há capitalismo. Patrão e oficiais, todos trabalham no mesmo pé de igualdade quase. Sendo uma “classe inteligente”, pode resolver o assunto, “com a condição de haver uniformidade para cada uma das terras”.
Carlos Lopes de Almeida volta a usar da palavra para defender medidas que complementem o descanso semanal, como a criação de jardins operários, com o objetivo de afastar os trabalhadores “das tabernas, das casas de jogo e de prostituição, onde eles vão buscar causa, não só para o seu definhamento, mas também para o definhamento dos seus descendentes”.
No dia 8 de agosto de 1907 seria publicado o decreto sobre o descanso semanal.
Os cordões sanitários, as vacinas, a falta de vacinas, a sua obrigatoriedade ou mesmo os efeitos nefastos das mesmas têm sido temas recorrentes no atual debate parlamentar. Mas se há quem pense que o debate sobre estas questões é exclusivo do período que vivemos, devido à pandemia causada pelo coronavírus, desengane-se. Dúvidas idênticas surgiram ao longo da nossa história parlamentar, associadas ou não a situações epidémicas.
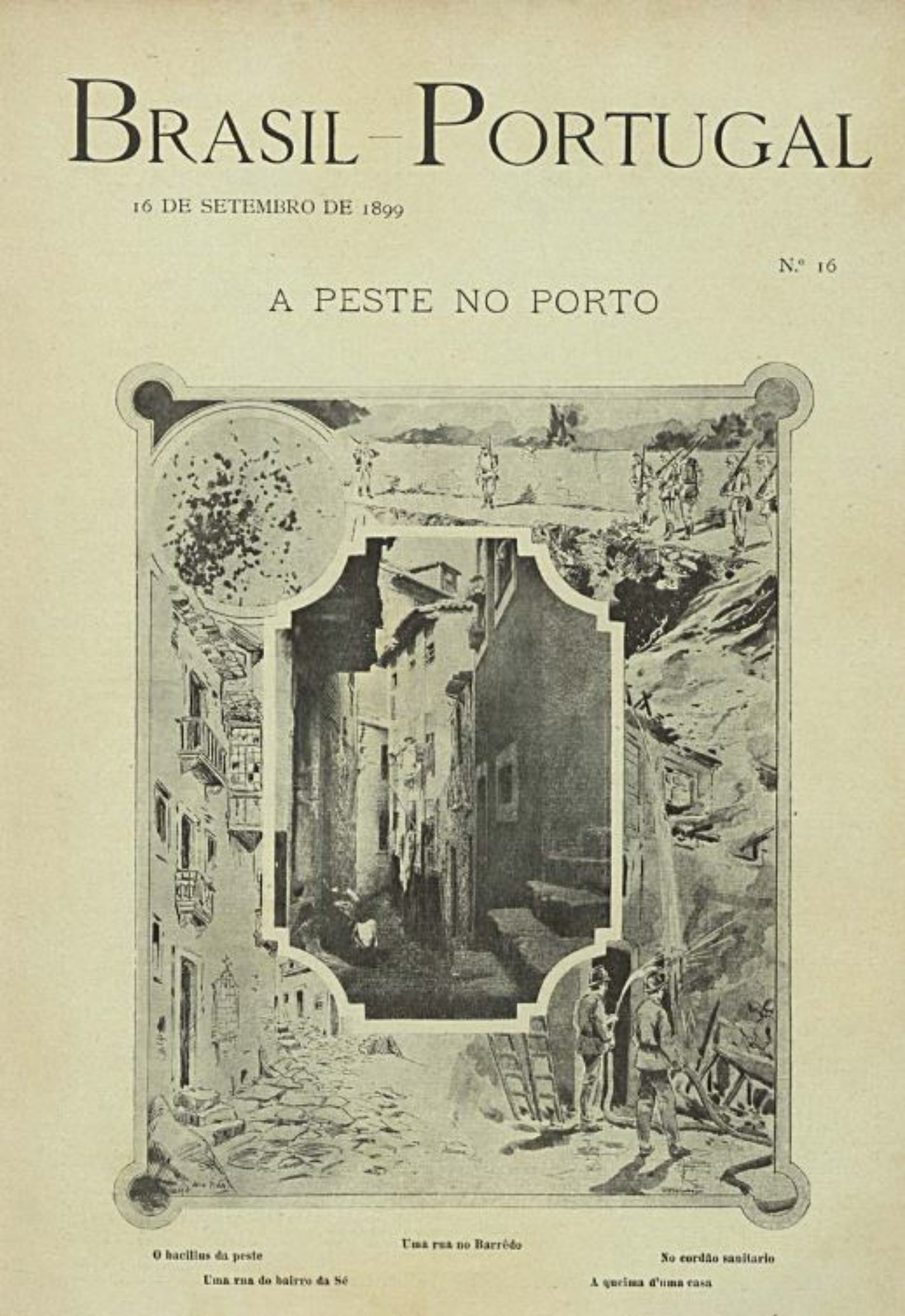
No final do século XIX, a sequência de epidemias e o número de mortes associadas, causadas sobretudo pela cólera, varíola, febre amarela e peste bubónica, obrigaram à adoção de medidas de saúde pública, algumas das quais objeto de grande contestação, como foi o caso do cerco sanitário ao longo da fronteira com Espanha (1885) e mais tarde o cerco sanitário ao Porto (1899) ou o isolamento em lazareto, e trouxeram a classe médica, a investigação em saúde e as medidas de higiene e prevenção para a esfera pública.
Como é óbvio, nas câmaras parlamentares ressoavam e ampliavam-se os ecos deste debate que ocorria na sociedade, incidindo sobre a eficácia das medidas adotadas e os avanços científicos, incluindo as vacinas e as consequências económicas e sociais dos cordões sanitários.
A
16 de janeiro de 1885, aquando do cerco sanitário ao longo da fronteira devido à epidemia de cólera que grassava em Espanha, na Câmara dos Deputados da Nação Portuguesa, é dado conhecimento da situação vivida pelos pescadores de Caminha, concluindo o Deputado Teixeira de Sampaio a sua intervenção da seguinte forma:
“Se o governo continuar a deixar permanecer ali o cordão sanitário, segue-se que os pescadores portugueses estão inibidos de auferir os meios para a sua sustentação, e então será difícil a manutenção da ordem porque
a fome não tem lei.”
A eficácia deste meio também era questionada:
“(…) não por meio de cordões sanitários, porque se tem visto que a cólera, zomba de tais meios” afirmava o Deputado Chamiço, a
8 de maio de 1855.
Mais tarde, a
8 de março de 1900, o cerco sanitário ao Porto, devido à epidemia de peste, suscita um acalorado debate, contrapondo-se à decisão do Governo os pareceres emitidos pela junta consultiva de saúde do reino:
"Torna-se indispensável isolar o Porto do resto do país, não pelo isolamento absoluto e bárbaro, que seria a negação dos princípios da ciência em matéria de saúde pública, mas pela restrição e regulamentação das comunicações, de modo a assegurar por sólidas garantias que as pessoas ou coisas, saídas da cidade infecta, não vão levar a outros lugares indemnes os germes morbígenos.
O isolamento absoluto é a morte social, o sequestro de todo o comércio humano, a tirania do egoísmo. A junta não propõe tal exagero."
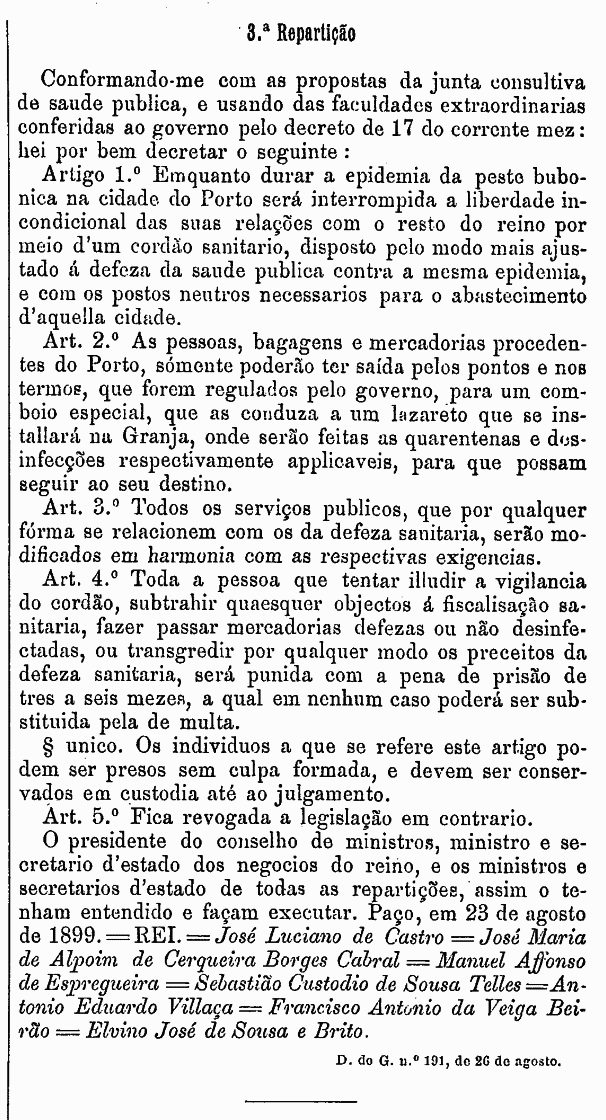
“23 de agosto de 1899: Decreto do Ministério do Reino interrompendo a liberdade incondicional das relações do Porto com o resto do reino por meio de um cordão sanitário, enquanto naquela cidade durar a epidemia da peste bubónica.
Apesar deste parecer e de outro, no mesmo sentido, emitido por uma comissão de professores constituída por decreto real para, no Porto, estudar a epidemia, o Governo proíbe a saída de passageiros, bagagens e mercadorias do Porto. O cerco haveria de durar quatro meses.
A vacinação, então descoberta recente de Pasteur, entra igualmente no debate parlamentar. A
16 de junho de 1885, na Câmara dos Pares do Reino, o Par do Reino Tomás de Carvalho responde à questão suscitada pelo Visconde de Moreira de Rei sobre a não indicação pela Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa de qualquer dos seus membros para integrar a comissão que foi a Espanha estudar o sistema de profilaxia da cólera
(cholera morbus) aplicada pelo Dr. Ferran, ao contrário das escolas de Coimbra e do Porto.
Defende então Tomás de Carvalho, que era também diretor da Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, que esta conhecia pelos jornais científicos e políticos os trabalhos do Dr. Ferran pelo que não precisavam de “mandar ninguém para saber o que de ninguém era ignorado”.
De seguida coloca em causa os trabalhos do Dr. Ferran, referindo que em medicina, a ideia de praticar a inoculação das moléstias contagiosas é velha e muito antiga:
“Mas foi principalmente nestes nossos tempos que Pasteur, como todos sabem, lhe imprimiu um caracter científico. Foi ele quem fez conhecer com evidência onde residia a contagiosidade das moléstias que têm este caráter. O Dr. Ferran é um discípulo dele; e prossegue nas suas investigações, acerca do microscópico vegetal, que multiplicado aos milhares, dizem produzir a cólera. É este quase invisível vegetal, este bacilo, a causa, a origem primária da doença.
Se houvesse um meio de inocular este vírus de maneira a produzir naquela moléstia contagiosa o mesmo que já nós conhecemos relativamente à varíola, evidentemente tinha caminhado e progredido por um lado a medicina, e por outro tinha-se realizado um grande benefício à humanidade.”
Prossegue desmentindo notícias que corriam segundo as quais as corporações científicas de Espanha teriam dado assentimento incondicional às inoculações ou ainda que o governo francês teria enviado emissários seus para estudar os trabalhos do Dr. Ferran. Mais, cita uma fonte que teria desmentido notícias publicadas nos jornais daquele mesmo dia, segundo as quais Pasteur e dois dos seus discípulos se dirigiam a Espanha. Segundo esclarece, Pasteur ter-se-ia limitado a escrever uma carta ao Dr. Ferran “elogiando o trabalho realizado e propiciando a profilaxia que ele confiava obter da vacina, mas reservando a sua opinião para quando os factos tivessem efetivamente demonstrado que a vacina tem os efeitos benéficos” que ele lhe atribuía.
Na mesma intervenção, relata que dias antes teria sido intercetado pelo governo um líquido trazido por um médico espanhol, que dizia que era composto e manipulado com os mesmos ingredientes e de igual maneira ao do Dr. Ferran e que se propunha aplicar em Lisboa a vacinação colérica. Este, contudo, teria dito que o médico não era seu discípulo e nem sequer o conhecia.
Tomás de Carvalho alerta ainda para os riscos de a vacina desencadear uma doença similar à que se propunha evitar, no caso, desencadearia uma colerina, o que tornava arriscada a vacinação em regiões não afetadas pela doença. Refere ainda que, embora se tivessem vacinado cem, mil, duas mil pessoas, não provava que os indivíduos inoculados estivessem completamente indemnes ou imunes e ao abrigo do contágio, pois pelas declarações do Dr. Ferran sabia-se que ele julgava necessária segunda vacinação e talvez terceira, pelo que não imaginava quantas inoculações seriam precisas para que aquele meio preservativo pudesse ser eficaz.
O que surpreende nestas intervenções é a permanência ou atualidade de algumas das medidas adotadas no final do século XIX, em situação de epidemia, bem como as questões suscitadas perante as medidas aplicadas pelo poder político e as dúvidas relativas aos supostos avanços científicos, o que se revelou, no caso, justificado.
A história que aqui se reproduz consta das atas da sessão de 14 de outubro de 1822 das Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa, conhecidas como Cortes Constituintes.
Estas Cortes, fruto da Revolução Liberal de 1820, foram o primeiro parlamento português eleito. Os trabalhos decorreram entre 24 de janeiro de 1821 e 4 de novembro de 1822, no Palácio das Necessidades, em Lisboa.
A Constituição de 1822 foi aprovada a 23 de setembro de 1822. Durante o período em que as Cortes estiveram em funcionamento, os deputados constituintes debateram e aprovaram outras leis, que decorriam naturalmente do texto constitucional.
Temos de recuar até àquela época e lembrar que só então ficou consagrada a divisão tripartida dos poderes (legislativo, executivo e judicial) e foi extinto o Tribunal da Inquisição1. Por isso, os deputados consideraram a reforma da organização judiciária uma das principais prioridades, embora, por razões políticas, não tenha chegado a concretizar-se de imediato.
Importa ainda recordar que, apesar de Portugal ter sido pioneiro a abolir a pena de morte para crimes civis, isso só aconteceria anos mais tarde, em 1867. Contudo, alguns deputados abolicionistas empenharam-se então na elaboração de legislação mais humanitária, menos cruel, envolvendo até a alteração das expressões utilizadas2, o momento da aplicação da pena e a competência para condenar.
E é assim que no debate dos artigos 86.º e 87.º do “Projeto de decreto de criação das nossas Relações”, na sessão de 14 de outubro de 1822, o Deputado Peixoto considerou insuprível, principalmente em caso de morte, o exame do corpo de delito. E justificou a sua posição mencionando erros havidos:
“(…) aqui mesmo na suplicação aconteceu julgarem uma morte, em que não tinha havido corpo de delito; queixou-se a mulher do condenado à Rainha a Sra. D. Maria I, afirmando que o facto era falso; e que o suposto assassinado era vivo; mandou-se informar o juiz da culpa, o qual novamente afirmou, que pelos autos se provava, sem deixar dúvida, a existência do delito; e quando a sentença estava para cumprir-se, apareceu o suposto assassinado, que estava vivo, e são.”
Apesar destas observações e da discordância igualmente manifestada pelo Deputado Borges Carneiro, os artigos em causa foram aprovados sem considerar o exame do corpo de delito.
1 - A abolição do Tribunal do Santo Ofício de Inquisição foi aprovada na sessão de 24 de março de 1821.
2 - “Observarei em segundo lugar que a expressão morte natural, se não deve mais conservar: é tempo de se desterrarem a frases inexatas que conspurcam a jurisprudência. Morte natural é a de um homem muito velho a quem abandona a vitalidade, e a natureza; aquela morte de que aqui se trata é muito artificial.” Borges Carneiro, sessão de 15 de outubro de 1822.
Na reunião plenária da Câmara dos Senhores Deputados da Nação Portuguesa de
3 de março de 1884 discute-se na generalidade o projeto n.º 9, apresentado pelo Governo, que procede à reforma eleitoral.
 Parecer da Comissão Eleitoral relativo ao Projeto 9 - AHP
Parecer da Comissão Eleitoral relativo ao Projeto 9 - AHP
Manuel de Arriaga, do Partido Republicano Português, intervém considerando que se o sistema da representação nacional se baseia no sufrágio «hoje no nosso país mais ou menos universal, a conclusão única, coerente e singela a tirar do princípio é que as multidões, aquelas que constituem a maioria do país, se tivessem aqui entrada franca e leal em nome da lei, como a deveriam ter, só elas representariam a maioria da câmara e que nesse dia, que há de vir e porventura não está longe, se elas vos aplicassem a mesma lei que haveis mantido para interesse vosso exclusivo, vós, que representais a minoria do país, não teríeis aqui lugar. (…) Mas como se explicará o enigma, que, estando as classes privilegiadas em menor número e baseando-se o sistema em que elas preponderam, no sufrágio popular, seja a minoria quem subjugue e governe as maiorias?».
Para o orador, a explicação residia no recenseamento e também no sistema de listas e de desdobramento das listas. Por isso, apresenta uma proposta de eleição dos Deputados por lista uninominal nos círculos de um, quatro e seis Deputados. Acredita que só este sistema permite a representação de todos os partidos de forma proporcional, o que considera a «tradução senão exatíssima ao menos aproximada do estado da opinião pública», ao invés do que acontece com a representação obtida com o escrutínio de listas.
Na sessão seguinte, a 6 de março, o Deputado Augusto Fuschini, relator desta iniciativa, discursa longamente, respondendo às diversas questões que lhe foram postas na sessão anterior, com particular ênfase nas questões suscitadas por Manuel de Arriaga.
Quanto aos círculos uninominais, manifesta discordância por entender que não davam garantia às oposições porque «no círculo plurinominal, com a lista incompleta, ao menos atende-se a um grupo da minoria».
Questiona depois qual o princípio que fundamenta a restrição do direito de voto e defende que, para não correr o risco de uma reação ou revolução, é indispensável avançar para o sufrágio universal. Destaca o facto de «todas as nações europeias que caminham à testa do progresso alargam sucessivamente o seu eleitorado. Em regra, as nações parlamentares tendem a alargar o seu eleitorado».
Cita a lei em vigor, de 1878, que define «como tendo capacidade os chefes de família e os que sabem ler e escrever, consente crescimento continuo do eleitorado; não sendo muito natural que um homem case para ser eleitor, mas sendo perfeitamente razoável que aprenda a ler e a escrever para conseguir o direito eleitoral, está na mão de cada um obter esse direito com um pequeno esforço e com grande vantagem própria».
 Proposta de alteração apresentada por Manuel de Arriaga, 1884 - AHP
Proposta de alteração apresentada por Manuel de Arriaga, 1884 - AHP
Considera assim o orador que a lei de 1878 permitiu o crescimento contínuo dos eleitores e, apesar de considerar que o sufrágio é um direito de todo o cidadão, defende que é necessário reformar as instituições, os costumes, educar as massas e esclarecê-las, o que não se consegue com saltos, nem precipitações.
«Eu não me revolto contra as massas porque saí do povo; mas há povo e povo. Se S. Exa. me fala do povo que trabalha, de cujo seio nasceram os maiores homens, porque das massas populares têm saído n'este século os grandes talentos; se S. Exa. me fala do povo que se resigna com a sua situação, porque enfim em todos é indispensável que a religião ou a filosofia nos forneçam essa mansuetude de espirito; do povo que não inveja, do povo que sustenta os seus direitos sem invadir os de outrem, do povo que solicita e pede, não com o chapéu na cabeça e altivo, mas com hombridade e delicadeza, dir-lhe-ei que, vendo esse povo, sinto-me filho dele e de lá vieram os que me deram o ser. Quando vejo, porém, homens obscuros, invejosos, ignorantes e selvagens levantarem-se apenas em nome da sua força bruta e quererem destruir tudo e destruir-me a mim, porque à custa do meu trabalho me elevei um pouco acima do seu baixo nível, desprezo-os, e quando essa massa bater a esta porta, encontrar-me-á aqui para reagir contra ela».
Ouvem-se vozes de apoio.
Nas sessões seguintes prossegue o debate deste projeto. A
8 de março, o Deputado Dias Ferreira defende também os círculos uninominais, concluindo que «o escrutínio de lista serve de armar os governos contra os povos e nós do que precisamos é de armar os povos contra os governos. (…) Dar quase tudo ao partido mais forte, o resto ao imediato e arrancar aos partidos menos numerosos o direito de representação proporcional, não é garantir a liberdade, é afirmar o despotismo».
A concessão do direito de voto às mulheres não esteve arredada do debate. No início deste debate, na sessão de
19 de fevereiro, o Deputado António Maria de Carvalho havia afirmado: «A minha proposta compreende ainda outra classe de eleitores. Eu digo que deve ser eleitor todo o individuo que contribuir para as despesas do estado e por isso mesmo não excluo a mulher industrial, proprietária ou comerciante; entendo que a mulher em tais casos deve ter o pleníssimo direito de votar».
Dias depois, na sessão de 6 de março, o Deputado Augusto Fuschini cita Stuart Mill, de quem se considera discípulo, e que merece a concordância de Manuel de Arriaga:
«Todos os seres humanos têm igual interesse em ser bem governados e igual necessidade de um voto para assegurarem a sua parte nos benefícios de um bom governo. Ninguém se atreve a afirmar que as mulheres haviam de fazer mau uso do sufrágio. Chega-se quando muito a dizer que votariam como simples máquinas, segundo a ordem dos seus parentes do sexo masculino. Se assim for, assim seja. Se por si próprias pensarem será isso um grande bem, aliás o mal resultante será nulo».
A 21 de maio de 1884, depois de ter sido também apreciado na Câmara dos Pares, o projeto de reforma da lei eleitoral é aprovado. O sufrágio é feito de forma mista coexistindo círculos plurinominais de lista incompleta e círculos uninominais. O sufrágio é alargado a todos os que saibam ler e escrever ou sejam chefes de família. Não previam os legisladores que esta formulação equívoca «chefes de família», que permaneceu na legislação eleitoral, permitiria que 27 anos depois, por ocasião das eleições para a Assembleia Constituinte de 1911, uma mulher, Carolina Beatriz Ângelo, exigisse e pudesse exercer o direito de voto.
Ana Vargas
Imaginem que o Sr. Bordalo Pinheiro era preso e “durante esse período tinha de aprender um ofício que lhe garantisse, depois da soltura, uma vida honesta!”.
Este foi um dos argumentos utilizados pelo Deputado Manuel de Arriaga para contestar a proposta de lei de reforma penal, que visava alterar o Código Penal de 1852, apresentada em 1884, pelo Ministro da Justiça, Lopo Vaz de Sampaio e Melo.
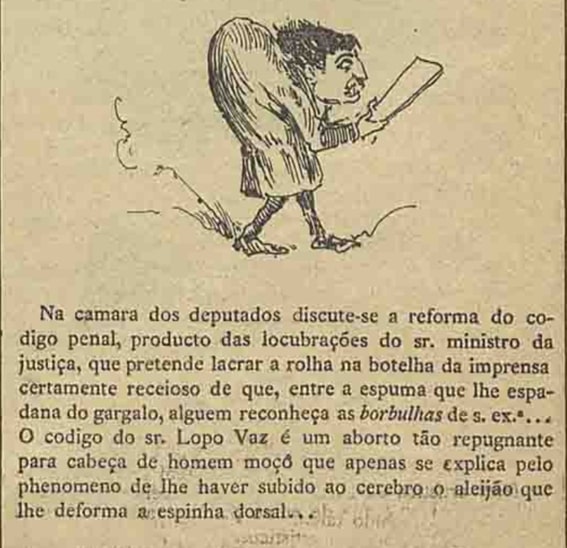 Hemeroteca Municipal de Lisboa, O António Maria, n.º 254, 10 abril 1884.
Hemeroteca Municipal de Lisboa, O António Maria, n.º 254, 10 abril 1884.
O discurso, longo e contundente, foi proferido nas sessões de 5 e 16 de abril de 1884, mas publicado apenas no Diário das Sessões de 16 de maio de 1884.
Entre as várias questões que a reforma suscita, a que merece maior crítica do Orador tem a ver com o facto de o julgamento, bem como o necessário despacho de pronúncia, passar a competir ao juiz correcional, naquilo que considera ser uma ampliação dos poderes deste face a uma redução da prerrogativa do júri. Manuel de Arriaga considera que quando se conspira contra a liberdade conspira-se contra a instituição do júri que a garante.
Discorda do julgamento de determinados crimes, designadamente os de opinião e consciência, por juízes, formados pelo poder executivo, em detrimento do julgamento feito por iguais, sem formação específica.
No entender do Orador: “Sempre que surge a liberdade, surge como companheira inseparável, a instituição do júri; sempre que se conspira contra aquela; sempre que se tenta restringi-la e cerceá-la: restringem-se e cerceiam-se as atribuições deste; e quando a reação vitoriosa a suplanta, o júri desaparece com ela”.
Justifica a sua posição mencionando os crimes de consciência e de opinião e exemplifica com o processo intentado contra Bordalo Pinheiro, a propósito da imitação da ceia de Leonardo da Vinci, que foi considerada como uma injúria feita a um objeto de culto.
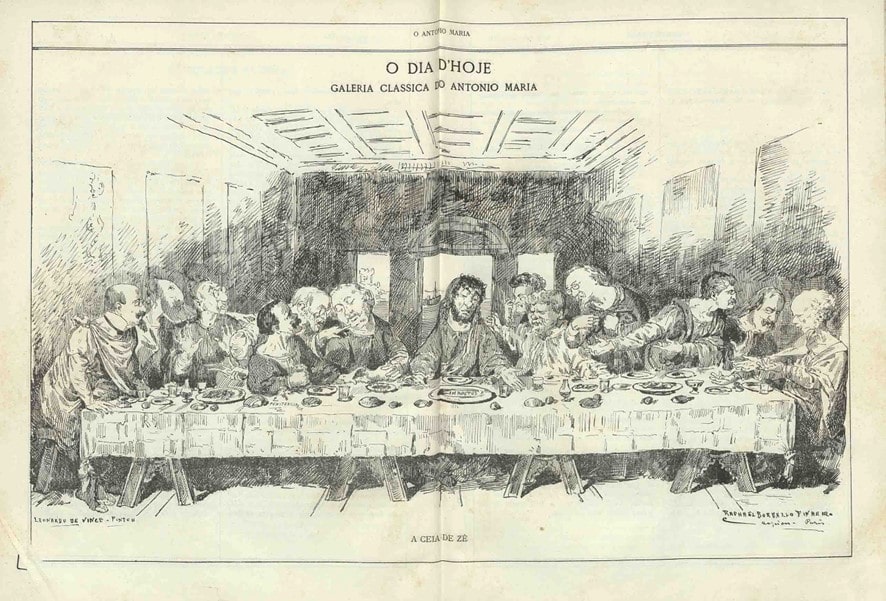 Hemeroteca Municipal de Lisboa, O António Maria, n.º 149, 6 abril 1882, pp. 4-5.
Hemeroteca Municipal de Lisboa, O António Maria, n.º 149, 6 abril 1882, pp. 4-5.
“Levanta-se no comissariado da polícia um auto sobre as supostas injúrias ao trono e ao altar; ouvem-se uns agentes da autoridade que nada entendem de crítica; e assim com a maior facilidade e sem cerimónia deste mundo fica constituído o corpo de delito, sobre o qual há de basear-se o despacho de pronúncia, e pouco depois a sentença condenatória! Um horror!
Na questão da ceia do Senhor os peritos e as testemunhas partiram da ideia falsa de que a obra de Vinci é um quadro sagrado que faz parte do culto religioso, e que a imitação do mesmo constitui uma ofensa à religião e conjuntamente segundo me pareceu uma ofensa à realeza!...
Todos sabem hoje que o quadro da ceia de Vinci foi pintado pelo inspirado mestre na sala do refeitório, de um convento; que, com o andar dos tempos as gerações degeneradas d'esse convento, profanaram-no abrindo nele uma porta para pôr em comunicação mais direta a cozinha com o refeitório!
O Sr. Fuschiní: - Abriram-na entre as pernas do Jesus.
O Orador: - É exata a observação do sr. Fuschini! Como vedes os verdadeiros profanadores do quadro foram aqueles que provavelmente classificariam de injuriosa para o culto a imitação ou paródia do mesmo!...
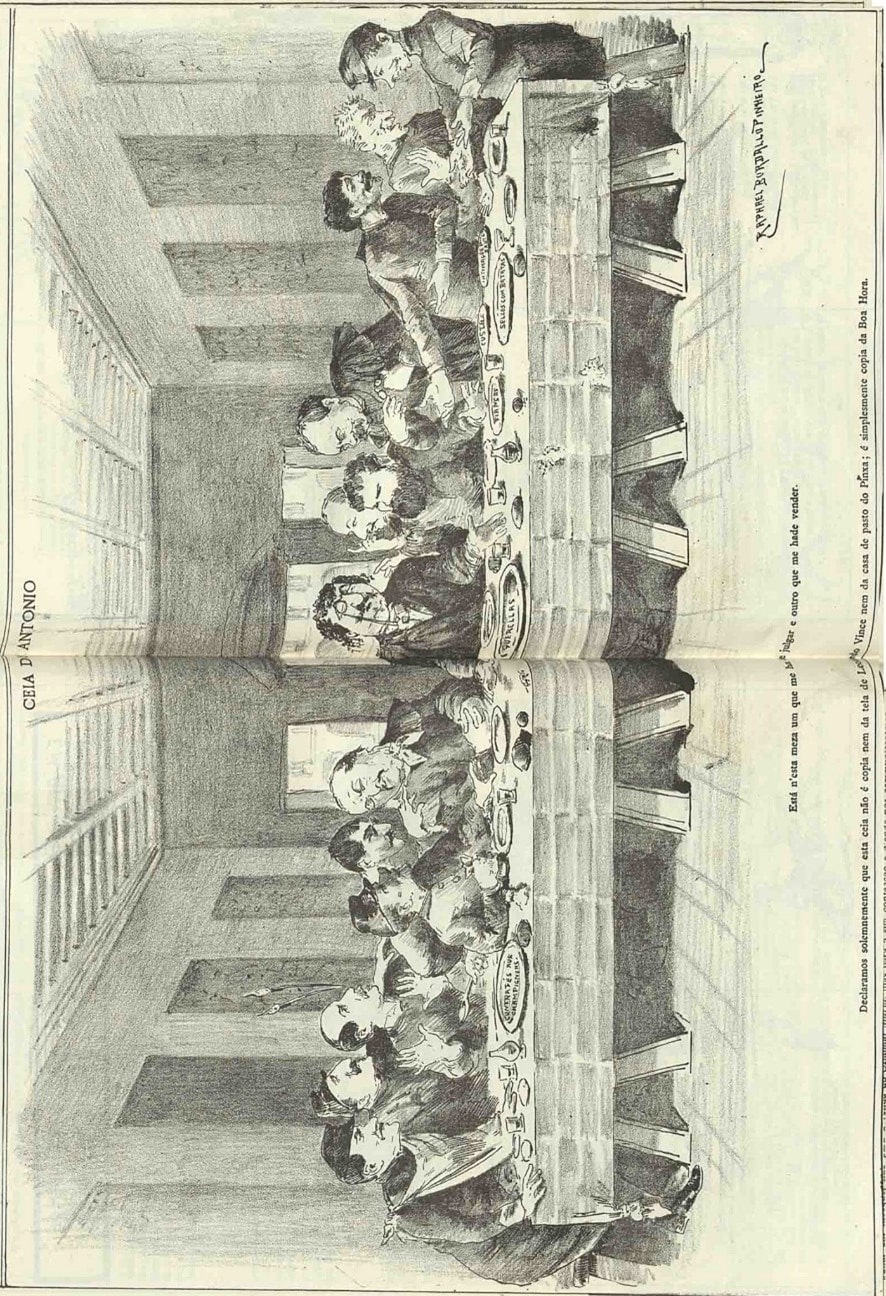 Hemeroteca Municipal de Lisboa, O António Maria, n.º 199, 22 março 1883, pp. 4-5.
Hemeroteca Municipal de Lisboa, O António Maria, n.º 199, 22 março 1883, pp. 4-5.
Afirmando as testemunhas no corpo do delito que o réu Bordalo Pinheiro ofendeu publicamente a religião do estado, quer quando fez a paródia, do citado quadro, quer quando na hipótese acima indicada fez a crítica dos abusos do culto católico: entregue em tais condições ao juízo correcional, há tudo a recear de que este, em harmonia com o seu despacho de pronúncia, dê o crime como provado; e que usando de toda a clemência para com o revoltado espírito de crítico, o sujeite com piedade (…) à pena correcional de pouco mais de um ano!”
Apesar das vozes discordantes e das críticas feitas, a proposta de lei foi aprovada a 14 de junho do mesmo ano.
Rafael Bordalo Pinheiro foi absolvido do processo instaurado pela Igreja. Dias depois da absolvição publicou de novo a última Ceia, só que desta feita ocupa o lugar de Cristo e encontra-se rodeado de juízes e polícias.
Ana Vargas
O transporte ferroviário foi objeto de debate parlamentar desde o período da monarquia constitucional até à atualidade. A primeira referência que se encontra a caminhos de ferro é na Câmara dos Deputados da Nação Portuguesa, em 1827, aquando da apresentação de um
projeto de lei destinado a premiar os Autores ou Introdutores de novos Inventos, contudo, só 29 anos depois seria inaugurado o primeiro troço que ligava Lisboa ao Carregado.
Nos anos seguintes são lançados concursos, aprovada legislação e construídos novos troços ferroviários. O caminho de ferro que liga o Barreiro a Faro entra ao serviço na segunda metade do século XIX. Para o efeito foi inicialmente contratada uma empresa inglesa. Entre 1861 e 1864 o caminho de ferro chega sucessivamente ao Barreiro, a Vendas Novas, Évora e Beja. As linhas são concessionadas à empresa inglesa sendo depois, em 1868, avaliada a concessão, dada a situação da empresa. É neste contexto que a 4 de agosto de 1868 o deputado Belchior Garcez1 discursa na Câmara dos Deputados da Nação Portuguesa.
Segundo explica, está contra contratar-se novos caminhos de ferro porque, em seu entender, o estado financeiro do país não o permite. No entanto, «quando os contratos são celebrados, quando o parlamento os aprova, a imprensa os aplaude e o país os recebe com alegria», dispõe-se a aceitar as alterações necessárias para tornar realizáveis projetos, ainda que tenham sido mal calculados.
Questiona também os complexos cálculos feitos antes de cada contratação referindo que «se eu fizesse aqueles cálculos em relação, por exemplo, aos presidentes de conselhos de ministros, poderia provar que Portugal não pode ter presidentes de conselhos (risos), e até provaria que Portugal não pode ter deputados (risos), porque o subsídio dos deputados representa um juro composto no fim de alguns anos, uma quantia avultada (risos)».
Estava então em causa a construção de 119 quilómetros de caminho de ferro, que continuaria de Évora em direção a Estremoz, permitindo a junção da rede dos caminhos de ferro de sudoeste com a rede dos caminhos de leste e norte. Reconhece, entretanto, que «quando se atira um caminho de ferro para o meio de um povo, este fica alguns anos a olhar para ele sem saber o que há de fazer desse caminho, nem para que ele pode servir-lhe».
E conta o seguinte episódio:
«Quando se fez o caminho de ferro do Barreiro a Vendas Novas, fui eu um dia, como ia quase todos os dias por motivo de serviço a Vendas Novas, e encontrei-me lá com um almocreve, que trazia uns odres de azeite para vender em Lisboa. Os machos vinham doentes, e o homem estava aflito. Condoído do pobre homem, disse-lhe: Deixe o gado em Vendas Novas, que aí lho tratam, e venha na locomotiva comigo para o Barreiro, que vem de graça. Com dificuldade aceitou a minha oferta. Veio a Lisboa, fez o seu negócio, e no outro dia voltou para Vendas Novas. Foi ter comigo e disse-me que se não tivesse presenciado o que se passou havia de dizer que era bruxaria, porque ainda que lhe abrissem a cabeça nunca poderia acreditar, se não tivesse visto, que em vinte e quatro horas se podia vir de Vendas Novas a Lisboa, vender o azeite, comprar o que se precisava e estar de volta. Mas o mais bonito é que no fim o almocreve pediu-me encarecidamente que lhe fizesse aquele favor mais alguma vez, mas só a ele; que o não fizesse a mais ninguém! (riso) Foi este almocreve o primeiro expedidor do caminho de ferro do sul».
Conclui assegurando que há motivos de força maior que levaram esta companhia à ruína e refere que todos os governos «ilustrados» do mundo, na situação em que se encontra o governo português, têm tido atenções justas e razoáveis no sentido de não deixar nunca arruinar as companhias, considerando que não deve a nação portuguesa fazer os caminhos de ferro e obter os seus melhoramentos à custa de capitais alheios.
Apesar desta intervenção, no ano seguinte é feito o resgaste compulsivo da concessão e paga uma indemnização à empresa inglesa.
Ana Vargas
[1]José Belchior Garcez (1808-1874). Eleito Deputado oito vezes, primeiro pela Feira (1858-1859) e nas restantes legislaturas por Trancoso. Ministro da Guerra em 1860. Do ponto de vista político considerava-se «adido ao partido progressista há 36 anos». In Dicionário Biográfico Parlamentar 1834-1910, vol. II, coord. Maria Filomena Mónica
Na sessão de 26 de fevereiro de 1835 da Câmara dos Deputados, Manuel da Silva Passos (Passos Manuel) apresenta dois projetos de lei (1) para a abolição do celibato religioso, considerando cruel e contrária à natureza humana a proibição do matrimónio dos sacerdotes católicos e das freiras.

Busto de Passos Manuel da autoria de Anatole Calmels, Biblioteca Passos Manuel.
O Deputado aponta os resultados funestos da lei do celibato para a religião e a sociedade, conduzindo a estupros, adultérios e comportamentos contrários à civilização. Aspetos que ganham relevância pela influência que o clero exerce na sociedade:
"Se os eclesiásticos forem virtuosos, salutar será a sua influência; mas se pelo contrário forem devassos, dissolutos, e imorais, a liberdade da nação não pode deixar de se ressentir dessa funesta imoralidade! Em vez de clérigos estragados, adúlteros, concubinários, seria melhor que o povo se acostumasse a ver e respeitar em cada sacerdote um homem virtuoso, um bom marido, e um prudente pai de famílias."
Sobre as mulheres religiosas, lastima a brutalidade de "prender em ferros a melhor parte do género humano", obrigando "fracas damas" a um voto "feito muitas vezes quando o coração não tinha escutado ainda a voz irresistível da natureza". O projeto de Passos Manuel tem o propósito de libertar as religiosas dessa condição, de protegê-las da exposição ao "opróbrio e à desonra", mas também de honrar a dignidade de ser mãe, contra os preconceitos "que tendem a dar preferência a uma virgindade forçada e perpétua sobre a maternidade".

Painel de Columbano Bordalo Pinheiro representando Passos Manuel, Almeida Garrett, Alexandre Herculano e José Estevão de Magalhães, da autoria de Columbano Bordalo Pinheiro. Sala dos Passos Perdidos do Palácio de São Bento.
No entendimento de que "a obrigação do legislador não se limita a castigar crimes", mas também a encontrar "meios indiretos" que os previnam "sem provocar os males que acompanham os castigos e que derivam da jurisprudência penal", Passos Manuel socorre-se de dois preceitos defendidos por Jeremy Bentham:
"1.º Satisfazer um desejo sem prejuízo.
2.º Diminuir a sensibilidade quanto à tentação."
Relativamente ao primeiro meio de prevenção do crime apontado pelo filósofo e jurista inglês, Passos Manuel começa por evidenciar a "mútua e irresistível inclinação dos dois sexos", "a necessidade que têm de se amarem", conduzindo desta forma "à reprodução da espécie, pelo estímulo do prazer mais vivo, e mais imperioso, da cópula misteriosa”. Prossegue dizendo que, “apesar da hipocrisia", "não há moral poderosa para acalmar sentidos agitados, nem leis que bastem para refrear os vivos desejos do amor".
Defende, assim, que para prevenir o crime, não se deve contrariar a natureza, nem criminalizar os "desejos mais vivos" de um amor recíproco, assente no matrimónio:
"Às leis não cumpre fazer crime do que a natureza fez virtude, ou deixou inocência. Nem o coito vago, nem a poligamia, nem o concubinato oferecem vantagens à sociedade, que possam pôr-se em paralelo com o casamento, estado o mais próprio para fazer a felicidade do homem policiado. É por isso que os legisladores não só não devem pôr nenhum obstáculo aos matrimónios, mas pelo contrário têm obrigação de os favorecer e de os honrar."
Sobre o segundo meio de prevenir o crime, segundo Bentham – “diminuir a sensibilidade quanto à tentação” –, Passos Manuel defende que " é necessário deixar os meios de satisfazer os desejos do amor sem prejuízo", não os criminalizar e "honrar o matrimónio".
No seu discurso, refere ainda a imprudência de confiar a confissão e a "direção de consciências" a sacerdotes celibatários, salientando a maior pureza do protestantismo, "onde os clérigos, quando pregam a "castidade conjugal e a modéstia das virgens, são eles próprios, suas mulheres e suas filhas, o exemplo vivo destas virtudes cristãs".
Passos Manuel conclui que o celibato religioso contribui para a "escravidão dos povos", com uma lei imoral que os despoja dos "bons costumes, sem os quais não [pode] haver liberdade".
Na sessão da Câmara dos Deputados de 5 de março de 1835, é rejeitada a admissão à discussão do projeto de lei para a abolição do celibato clerical.
(1) Os projetos apresentados foram os seguintes:Abolição do celibato clericalArt. 1.º As ordens sacras não constituem um impedimento dirimente do matrimónio.Art. 2.º Nenhum presbítero, passados dez anos da publicação desta lei, será elevado ao episcopado, sem que, além das qualidades morais e religiosas para isso requeridas por direito canónico, tenha a de ser casado, ou viúvo, e sobre isso, pelas suas virtudes conjugais, e pela boa criação que der a seus filhos, tendo-os, se fizer estimar, e respeitar entre os fiéis, como um bom e prudente pai de famílias.Art. 3.° O Governo não proverá em nenhum benefício eclesiástico presbítero, que depois da publicação da presente lei se ordenar, não tendo completado os quarenta anos de sua idade, salvo se ao tempo da ordenação, ou depois dela, for casado, ou viúvo.Art. 4.º O Ministro e Secretário de Estado, que referendar algum decreto contra as disposições do artigo 2.°, será castigado com pena de um até três anos de prisão. O que referendar decreto contra as disposições do artigo 3.° será castigado com a pena de seis até dezoito meses de prisão.Art. 5.° Nas mesmas penas incorrerá o eclesiástico, que tomar posse de algum bispado, ou benefício eclesiástico, contra as disposições do 2.° e 3.° artigos da presente lei.Art. 6.° O Governo fica autorizado para convocar um concílio nacional, ou concílios provincianos, se assim o pedirem as necessidades da igreja lusitana, para dela se tirarem os escândalos, reformarem os abusos, e manter a pureza da nossa Santa Fé, e moral cristã.Art. 7.º Os votos de pobreza, obediência, e castidade, feitos pelos religiosos de ambos os sexos, ou os que para o futuro se fizerem, são declarados desde já írritos, e nulos, por virtude desta lei, e como se feitos não fossem.§. 1.° O voto de castidade não constitui um impedimento dirimente do matrimónio.Art. 8.º Nos conventos de religiosas é conservada a clausura.§. 1.° Só se pode quebrar perpetuamente: 1.° pelo casamento das religiosas; 2.° por autoridade do Governo, ouvidas as câmaras municipais do distrito, e com sua aprovação especial.§ 2.º Quebra-se a clausura temporariamente: 1.º a das religiosas maiores de quarenta e cinco anos de idade, com licença da prioresa, na falta dela com licença da câmara municipal do distrito; 2.° a das religiosas menores de quarenta e cinco anos, se com as cláusulas acima declaradas, saindo elas para casas de parentes até ao quarto grau, segundo o direito, ou de outras pessoas respeitáveis, e como tais havidas pela câmara municipal do distrito, e só para tratarem de sua saúde, por conselho de um facultativo, dado por escrito; 3.º a clausura de quaisquer religiosas, que queiram sair para casa de seus ascendentes, ou irmãos, declarando eles por escrito, perante a câmara municipal, que estão prontos a receber as ditas religiosas em suas casas, e por quanto tempo as recebem.Art. 9.º Os filhos ilegítimos dos eclesiásticos regulares ou seculares, que estes perfilharem por escritura pública, ou testamento, são em tudo, e para todos os efeitos havidos como filhos legítimos.§. 1.° Os eclesiásticos não herdarão de seus filhos ou descendentes, assim legitimados, se não por disposição de suas últimas vontades.Art. 10.° Fica revogada toda a legislação em contrário. Câmara dos Srs. Deputados, 26 de fevereiro de 1835. - Manuel da Silva Passos, Deputado pelo Douro.Subsídio às religiosas
Art. 1.° O Governo pagará desde já a cada uma das religiosas a quantia de 480 réis diários, que lhes serão continuados enquanto vivas forem.Art. 2 ° Esta quantia poderá subir até à de 720 réis, em atenção às poucas rendas dos conventos, que ficarem subsistindo, e à idade, e enfermidades das mesmas religiosas.Art 3.º As religiosas, que com autoridade do Governo viverem fora da clausura, vencerão a quantia que se lhes pagaria vivendo clausuradas.Art. 4.° As religiosas, que casarem, vencerão a pensão de 480 réis diários. Tendo dois filhos, ou daí para cima vencerão 720 réis.Art. 5.° O Governo por nenhum motivo espaçará a pensão alimentária decretada nos artigos 1.°, 3.° e 4.°.Art. 6.° As pensões alimentárias decretadas às religiosas começam a vencer-se desde a publicação da presente lei.Art. 7.º O Governo fará reparar os conventos das religiosas, e as obras necessárias se farão por arrematação.Art. 8.° As indemnizações decretadas [pelos] decretos de 30 de julho, e 13 de agosto de 1832 a respeito das corporações de religiosas, ficam satisfeitas desde a publicação da presente lei com as pensões nela designadas.Art. 9 ° Fica revogada toda a legislação em contrário. Câmara dos Srs. Deputados, 26 de fevereiro de 1835. - Manuel da Silva Passos.
A história que aqui se reproduz consta das atas da sessão de 14 de outubro de 1822 das Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa, conhecidas como Cortes Constituintes.
Estas Cortes, fruto da Revolução Liberal de 1820, foram o primeiro parlamento português eleito. Os trabalhos decorreram entre 24 de janeiro de 1821 e 4 de novembro de 1822, no Palácio das Necessidades, em Lisboa. A Constituição de 1822 foi aprovada a 23 de setembro de 1822. Durante o período em que as Cortes estiveram em funcionamento, os deputados constituintes debateram e aprovaram outras leis, que decorriam naturalmente do texto constitucional.
Temos de recuar até àquela época e lembrar que só então ficou consagrada a divisão tripartida dos poderes (legislativo, executivo e judicial) e foi extinto o Tribunal da Inquisição(1). Por isso, os deputados consideraram a reforma da organização judiciária uma das principais prioridades, embora, por razões políticas, não tenha chegado a concretizar-se de imediato.
Importa ainda recordar que, apesar de Portugal ter sido pioneiro a abolir a pena de morte para crimes civis, isso só aconteceria anos mais tarde, em 1867. Contudo, alguns deputados abolicionistas empenharam-se então na elaboração de legislação mais humanitária, menos cruel, envolvendo até a alteração das expressões utilizadas
(2), o momento da aplicação da pena e a competência para condenar.
E é assim que no debate dos artigos 86.º e 87.º do “Projeto de decreto de criação das nossas Relações”, na sessão de 14 de outubro de 1822, o Deputado Peixoto considerou insuprível, principalmente em caso de morte, o exame do corpo de delito. E justificou a sua posição mencionando erros havidos:
“(…) aqui mesmo na suplicação aconteceu julgarem uma morte, em que não tinha havido corpo de delito; queixou-se a mulher do condenado à Rainha a Sra. D. Maria I, afirmando que o facto era falso; e que o suposto assassinado era vivo; mandou-se informar o juiz da culpa, o qual novamente afirmou, que pelos autos se provava, sem deixar dúvida, a existência do delito; e quando a sentença estava para cumprir-se, apareceu o suposto assassinado, que estava vivo, e são.”
Apesar destas observações e da discordância igualmente manifestada pelo Deputado Borges Carneiro, os artigos em causa foram aprovados sem considerar o exame do corpo de delito.
(1) A abolição do Tribunal do Santo Ofício de Inquisição foi aprovada na sessão de 24 de março de 1821.
(2) “Observarei em segundo lugar que a expressão morte natural, se não deve mais conservar: é tempo de se desterrarem a frases inexatas que conspurcam a jurisprudência. Morte natural é a de um homem muito velho a quem abandona a vitalidade, e a natureza; aquela morte de que aqui se trata é muito artificial.” Borges Carneiro, sessão de 15 de outubro de 1822.
A 23 de setembro de 1822, as Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa aprovam a Constituição de 1822. A aprovação da primeira Constituição portuguesa levanta algumas questões de ordem prática que carecem de imediata deliberação.
A primeira, é suscitada pelo Presidente então em funções, Agostinho José Freire, que questiona os Deputados sobre se se devia fazer um encerramento no fim da Constituição e uma abertura no princípio.

Cortes Constituintes de 1820, por Roque Gameiro (in "Quadros da História de Portugal", 1917)
O Deputado Borges Carneiro intervém para referir que considera conveniente o termo do encerramento, mas inútil o de abertura, porque o texto constitucional se inicia logo com o título da Constituição.
O Deputado Guerreiro defende que o que lhe parece necessário é que se cosam “todas as folhas com uma fita e as pontas desta sejam seladas e metidas dentro de uma caixa.”
Já o Deputado Ferreira Borges defende que as pontas sejam seladas na última página. No entanto, esta disputa é resolvida pelo Deputado Trigoso que lembra que
oCongresso1 “não tinha chancelaria e por isso não podia usar de selo.”
A segunda questão prende-se com o dia e as formalidades de aceitação e juramento por parte do Rei D. João VI, designadamente quanto à data fixada para o efeito - 1 de outubro -, que alguns Deputados consideram um prazo demasiado curto, tendo em conta o dia de aprovação da Constituição. Debatem ainda se as Cortes devem fixar um prazo ou não. O Deputado Borges Carneiro afirma estar certo de que se o Rei souber que as Cortes e o povo de Lisboa “levam em gosto que o juramento seja naquele dia glorioso, o Rei o designará pois bem público é quanto deseja secundar as vontades da Nação.”
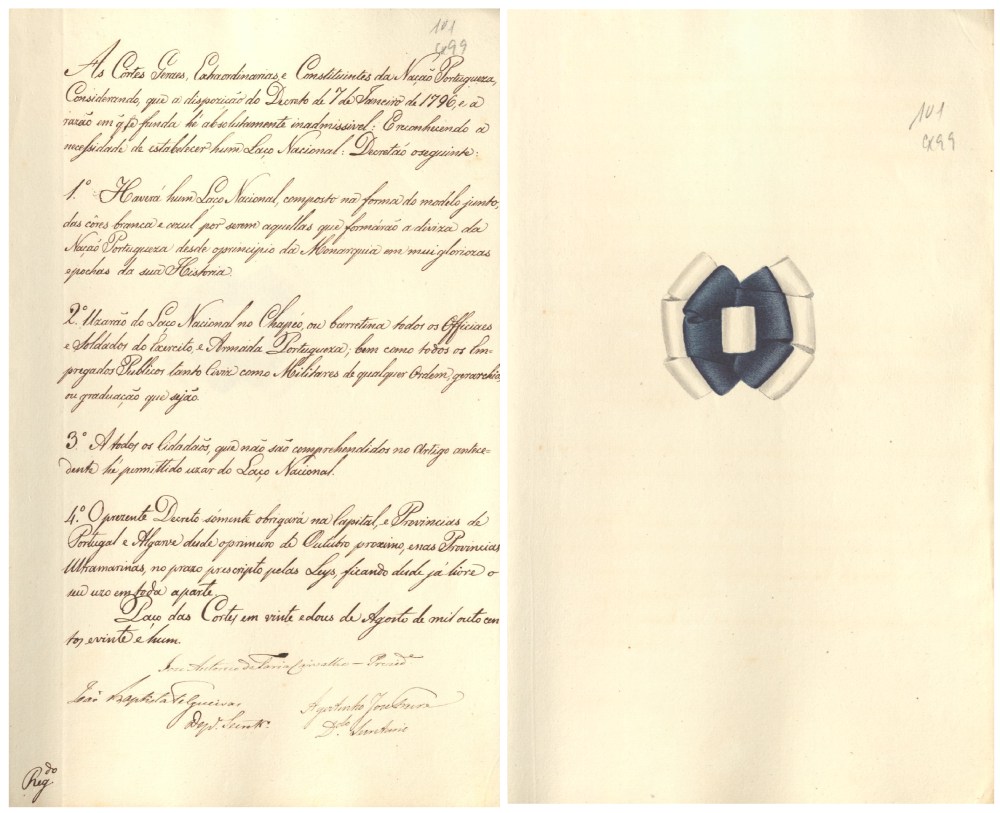
Mas a data escolhida, 1 de outubro, não era fruto do acaso, pois nesse dia comemorava-se a entrada dos membros da Junta do Porto em Lisboa, em 1820. Para assinalar essa data, as Cortes tinham aprovado, a 22 de agosto de 1821, um decreto sobre o laço nacional2. Nesse debate discutiu-se quem o devia usar e o prazo a partir do qual o seu uso seria obrigatório, tendo o Deputado Fernandes Tomás afirmado o seguinte:
“Os clérigos, todos sabem que o seu ofício é cantar, e que comem da Nação, e que são sustentados à custa dos mais; por isso acho desnecessário. O que eu desejava era que se acrescentasse que haveria uma comissão para os empregados que não o usarem. Por isso digo, aquele que não o trouxer, não receba ordenado”.
O debate prosseguiu sobre a data a partir da qual seria obrigatório o uso do laço3, tendo o Deputado Maldonado sugerido o dia 1 de outubro de 1821, que foi aprovado.
Voltando a 23 de setembro de 1822, o dia em que foi aprovada e assinada a primeira Constituição portuguesa, o Deputado Martins Ramos propõe a concessão de uma “amnistia geral para todos aqueles, que se acharem presos, ou implicados em crimes sobre diversidades de opiniões, e procedimentos políticos em qualquer ponto do país, a fim de que o mencionado dia do juramento da mesma Constituição seja um dia de jubilo completo para todos os indivíduos, que tem a ventura de pertencer à heroica Familia portuguesa.”
A apresentação desta proposta, que não será votada nesse dia porque não é considerada urgente e de que não se encontrará registo posterior, é fundamentada pelo proponente pelo desejo, que considera partilhado pelo Rei e pelos membros do Congresso, de que “em tão fausto dia não haja um só indivíduo da mesma Monarquia que se represente infeliz”.
A 1 de outubro de 1822, o Rei assina a Constituição, apesar de a “ordem sobre a fórmula para a publicação da Constituição” não fixar qualquer data, constando, em alternativa, a expressão “no dia que Sua Majestade designar”.
Apesar de não ter sido aprovada a amnistia, reza o Diário do Governo de 2 de outubro de 1822, que, na véspera, às sete horas da manhã, uma imensa multidão de habitantes da capital encheu as “galerias da sala das Cortes e vagava pelos corredores do mesmo Palácio, divisando-se no semblante de todos os mais decisivos, e enérgicos sinais de entusiasmo e júbilo, em que exultavam seus puros e sinceros corações de quando em quando entoavam os mais cordiais vivas à Soberania da Nação, à Constituição, às Cortes e ao El-Rei Constitucional”.
[1] As Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa eram, com frequência, designadas de Congresso ou mesmo soberano Congresso.
[2] Os laços nacionais surgiram na sequência da revolução francesa, servindo depois as suas cores de inspiração para as bandeiras nacionais. O laço nacional, que até então era azul e escarlate, passou a ser azul e branco, cores que a Bandeira Portuguesa adotaria em 1830.
[3] Pelo Decreto de 22 de agosto de 1821, executado pela Carta de Lei de 23 de agosto do mesmo ano, D. João fez saber a todos os súbditos que as Cortes decretaram que haveria um Laço Nacional, de cores branca e azul, por serem aquelas que formariam a divisa da Nação portuguesa. O Laço seria usado no chapéu ou na barretina de todos os oficiais e soldados do Exército e da Armada, bem como de todos os empregados públicos civis ou militares, de qualquer ordem, graduação ou hierarquia. O uso do Laço Nacional era permitido aos restantes cidadãos.
As Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa, às quais competia a elaboração e aprovação da que viria a ser a Constituição Portuguesa de 1822, iniciaram funções logo depois da eleição, realizada em dezembro de 1820.
Durante o seu mandato, os Deputados tiveram de se ocupar de outras questões, como as relativas ao funcionamento das Cortes, o diagnóstico do estado público do país e a regulação ou extinção de instituições anacrónicas face à nova ordem política.
Começaram, contudo, por elaborar e aprovar as Bases da Constituição, a 9 de março de 1821, tendo, no dia 29 desse mesmo mês, realizado a cerimónia de juramento por parte de todas as autoridades e por todo o país. “A fórmula «Juro aos Santos Evangelhos aderir e obedecer às bases da Constituição Política deste Reino que as Cortes Gerais, Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa reconhecem, e mandam provisoriamente guardar como Constituição» seria recitada nos paços do concelho, juntando-se o clero paroquial às vereações.”1
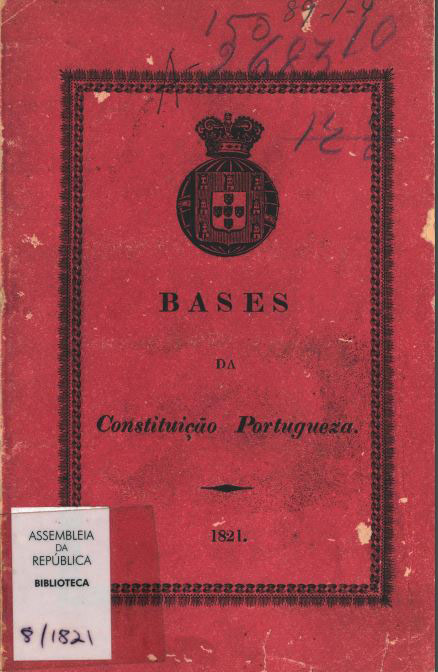
Dois dias depois, a 31 de março, a sessão começou, como era habitual, com a leitura e aprovação da ata da reunião anterior, seguindo-se a leitura de expediente que, nesse dia, consistiu em ofícios de membros do Governo, pareceres das comissões e cartas de felicitação e prestação de homenagem às Cortes.
Depois da aprovação do decreto para abolição da Inquisição, passou-se à discussão do articulado do Decreto sobre Bens Nacionais e amortização da Dívida Pública. A propósito do artigo 4.º, que determinava que para amortização da dívida se aplicasse o rendimento dos Benefícios, Ofícios e Dignidades da Igreja Patriarcal, o Deputado Borges Carneiro faz uma longa intervenção na qual procura justificar esta medida. Começa por referir que não há uma Patriarcal em Espanha, França, Alemanha ou Rússia, países muito maiores, contudo, existe em Portugal e tem um rendimento anual de 230 contos de réis, que consiste nos terços dos dízimos dos Bispados, foros e rendas que recebe das Províncias. Defende que os dízimos não podem ser arrebatados para se fundar na capital um “estabelecimento vaidoso em que sobre as ruínas dos exauridos provincianos nutrissem os eclesiásticos o fausto e a pompa mundana a que haviam renunciado no batismo e ordenação”.
Para evidenciar a riqueza da Patriarcal cita os preços dos chapéus: “só o seu chapéu com os outros 3 chapéus Cardinalícios vindos de Roma desde o ano de 1755 custam anualmente a Portugal 3 contos de réis, ao todo até o presente ano 123 contos e 600 mil réis; eu não dava por estes 4 chapéus 123 réis!”
Não retirando validade, nem pertinência à exposição, percebemos, quando conclui, que o destinatário deste discurso, é não apenas a Patriarcal, mas também o Cardeal Patriarca, D. Carlos da Cunha e Meneses, que “recusou reconhecer as Bases da nossa Constituição, a obra dos Ilustres Representantes da Nação Portuguesa, sancionada pelo voto geral dela.”
O Cardeal Patriarca tinha jurado com restrições os artigos 10.º – por requerer censura prévia eclesiástica em matérias religiosas – e 17.º – por exigir a formulação da religião católica como única dos portugueses e “sem alteração ou mudança alguma em seus dogmas, direitos e prerrogativas”. 1 2
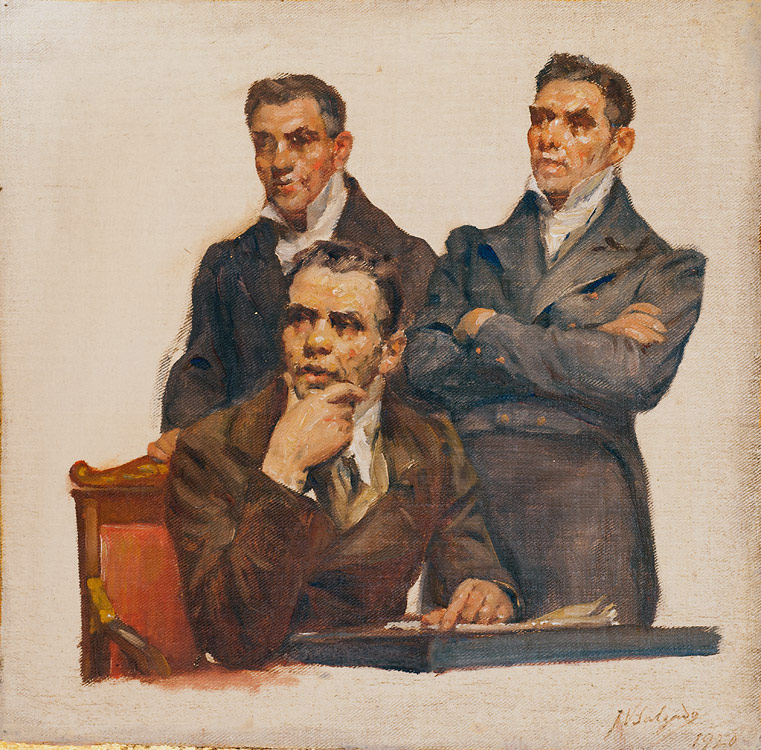
Estudo para a pintura de Veloso Salgado alusiva às Cortes Constituintes de 1821.
Apesar de estar em apreciação o Decreto sobre Bens Nacionais e amortização da Dívida Pública, após a intervenção do Deputado Borges Carneiro passou-se de imediato ao debate desta questão.
O Deputado Moura intervém referindo que “há um homem, há um Português, que declara que não jura observância ao que a Nação tem declarado como Lei fundamental. Isto é crime, ou não? Se é crime, é preciso que este crime se analise, é preciso que se castigue este crime.”
O Deputado Fernandes Tomás informa que sabe que a Regência determinou que o Cardeal Patriarca fosse para o Bussaco acompanhado de uma escolta de cavalaria, mas considera que ele cometeu um delito e que deverá ser julgado como um delinquente.
Este assunto passa à ordem do dia e decidiu-se chamar o Ministro dos Negócios do Reino para se apresentar perante o Congresso com os papéis, ordens e informações relativas ao Cardeal Patriarca.

Manuel Fernandes Tomás. Estudo para a pintura de Veloso Salgado alusiva às Cortes Constituintes de 1821.
O Deputado Castelo Branco considera que “réu é um infrator da Lei, não o posso considerar como infrator de uma Lei que não abraça, é uma Lei nova; mas por esse facto deixou de ser Cidadão. Por isso o procedimento que acho que deve ter-se com o Cardeal Patriarca é mandá-lo para fora da Sociedade com a segurança precisa.”
O debate prossegue e alonga-se, tendo o Deputado Xavier Monteiro colocado as seguintes questões: se o Congresso decide que deve ser julgado, que Tribunal o poderá julgar e qual a Lei em virtude da qual há de ser julgado.
Alguns Deputados que consideram que o Congresso deve determinar que ele é culpado, outros que ele deve ser julgado e outros que se deve deixar o assunto à Regência ou, ainda, que antes se deveria ouvir o Cardeal Patriarca. Por fim, considera-se que a questão é de grande ponderação, ficando o debate adiado para a sessão seguinte.
Na sessão seguinte, a 2 de abril, depois da leitura da ata, prossegue a discussão, tendo intervindo o Deputado Moura que refere o seguinte: “Aqui não há Lei Civil, ou Criminal, que fosse quebrantada; aqui não há Crime, o caso é todo político; trata-se de saber unicamente qual há de ser o destino que deve ter o Português que se não quer ligar às Leis fundamentais da Sociedade.”
De seguida, o Deputado Pereira do Carmo defende que o Cardeal Patriarca não é criminoso porque entende que usou do direito que lhe assistia e, para o comprovar, pergunta aos outros membros das Cortes:
“Se acaso a futura Constituição consagrasse o despotismo em princípio; desse cabo dos direitos individuais do homem, e do Cidadão; deixasse em pé as velhas instituições, que levaram a Nação às bordas do precipício; julgar-se-iam ligados pelo seu antecipado juramento a aceitar, cumprir, e observar uma tal Constituição?”
Prossegue dizendo que lhe resta mostrar que o Cardeal Patriarca apesar de não ser criminoso, não é Português:
“A demonstração é muito óbvia. Não é Português, porque não aceitou, nem jurou o Contrato Social porque a Nação Portuguesa deseja constituir-se de ora em diante em corpo político. E daqui se segue 1. ° Que o Cardeal Patriarca deve [deixar] o Território Constitucional do Reino Unido, no mais curto espaço de tempo que for possível. 2.° Que deve largar todas as honras, e fortuna que havia recebido da Nação, a quem ele mesmo enjeitou, e a quem trata com tanto desapego.”
O Presidente pôs então a votação, tendo sido aprovadas por ampla maioria, que toda a Autoridade, ou indivíduo que se recusa ao juramento das Bases da Constituição, sem restrição alguma, deixa de ser Cidadão Português, e deve, portanto, sair do Reino.
Pouco tempo depois, o Cardeal foi obrigado a exilar-se em França. Nesse mesmo ano, a 15 de novembro, foi apresentado um projeto de extinção da Patriarcal e a 4 de janeiro de 1822, as Cortes mandaram suspender todo o tipo de pagamento à Patriarcal.
O Cardeal Patriarca não foi o único membro do clero a recusar jurar as Bases da Constituição, embora fosse aquele que teve maior visibilidade. Não deixa de ser curioso o debate em torno desta recusa, ainda que parcial, num quadro jurídico e político novo, e o seu desfecho.
1 - In A hierarquia episcopal e o vintismo, Ana Mouta Faria - Análise Social, vol. XXVII (116-117), 1992 (2. °- 3.°), 285-328
2 - O teor dos artigos era o seguinte:
10.° Quanto porém àquele abuso, que se pode fazer desta liberdade em matérias religiosas, fica salva aos Bispos a censura dos escritos publicados sobre dogma e moral, e o Governo auxiliará os mesmos Bispos para serem castigados os culpados.
17.° A sua Religião é a Católica Apostólica Romana.
No dia 10 de dezembro de 1821, as Cortes Constituintes debatem o artigo 121.º do projeto de Constituição, relativo à sucessão do trono no caso de recair sobre uma mulher:
“Se a sucessão cair em fêmea, não terá seu marido parte no governo, nem chamará Rei, senão depois que tiver a Rainha um filho ou filha.”
O Deputado Maldonado defende que, em primeiro lugar, deve ser discutido se a sucessora do trono pode casar sem o consentimento das Cortes:
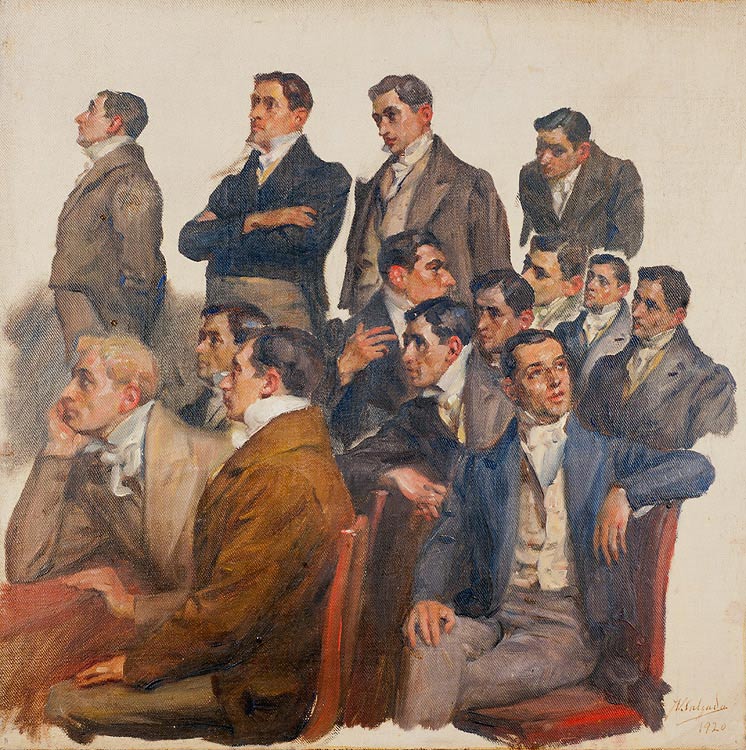
Pormenor de estudo para a tela Cortes Constituintes de 1821, de Veloso Salgado.
“Julgo que esta questão é importante de se resolver (…) por quanto se a sucessora do trono precisar do consentimento das Cortes para haver de casar, então parece que se lhe dá menos do que se lhe deve dar e se acaso não precisar daquele consentimento parece que se lhe dá mais. Digo, que parece que se lhe dá mais neste caso, porque se lhe dá entrada no governo unicamente por um favor caprichoso, por um favor da natureza; e se lhe dá muito menos, porque se acaso o esposo que escolher a sucessora da coroa não tem recebido da natureza este favor caprichoso, está excluído daquele benefício."
Alves do Rio apresenta uma emenda ao artigo: “Se a sucessão da coroa cair em fêmea, não poderá casar senão com português precedendo aprovação das Cortes.”
Está então lançado o debate sobre a possibilidade de um estrangeiro ocupar o trono de Portugal.
Castelo Branco entende que essa decisão deve ser deixada ao critério das Cortes, que, saberão avaliar “as qualidades precisas para ser marido da sucessora do trono português”, independentemente de ser estrangeiro.
Já o Deputado Sarmento considera que o casamento com um estrangeiro põe em causa a independência e a liberdade do país, constituindo uma ameaça aos costumes e enfraquecendo o “caráter nacional”.
Castelo Branco responde, referindo que o marido da Rainha não pode ter parte no governo, pelo que não se colocam os problemas levantados. A existirem, o Deputado argumenta que também se deveriam proibir os reis de casar com estrangeiras.
O Deputado Macedo contra-argumenta dizendo que, apesar de não poder ter parte no Governo, o príncipe continuará a exercer a sua influência, uma influência muito diferente da que poderia exercer uma princesa estrangeira. Alves do Rio acrescenta ainda que “ainda que o marido da Rainha não tenha parte no governo, é impossível que deixe de causar ciúme aos Portugueses”.
O Deputado Moura não receia essa influência, salientando que o marido da Rainha “nunca se chamará Rei, nem o será, e que a Rainha terá o inteiro exercício do poder executivo, pois o Parlamento detém o poder legislativo, competindo ao Rei executar as leis “coartado (…) por vários modos e estabelecendo diversas garantias”:
“Que perigo há em que um Príncipe estrangeiro venha sentar-se num trono, a que não sobe para governar? Diz-se que os Príncipes farão os costumes da sua nação: há coisa mais fútil que esta e porque as Princesas não hão de trazer do mesmo modo os costumes? Quem terá mais influência: o Rei, se for estrangeiro, ou a Rainha? Consulte cada qual o seu coração e veja se as mulheres têm menos influência nos homens, que os homens nas mulheres: pelo menos a influência será igual. “

Pormenor de estudo para a tela Cortes Constituintes de 1821, de Veloso Salgado.
O Deputado Sarmento menospreza a influência das mulheres nos costumes nacionais, pois apenas poderiam “introduzir a moda de algumas cabeleiras de França” ou determinar “a maneira de se apresentarem as damas na corte com donaires mais compridos ou mais curtos”.
Anes de Carvalho é contrário ao casamento com estrangeiro, utilizando também o argumento da influência que o marido da Rainha pode ter. Defende ainda que “os homens influem mais as mulheres, que as mulheres os homens, porque em razão de sua sensibilidade, e de sua fraqueza, de donde resultam seus vícios, e suas virtudes, elas são mais dominadas pelos homens, que os homens por elas; e daqui vem, que as leis de todas as nações sempre sujeitaram as mulheres aos homens.
Para o Deputado Varela, o maior perigo está no caso em que “o Príncipe não tenha direito algum a exercer a autoridade do governo”:
“Tal Príncipe não pode ser um herói; um Príncipe que se submete a ir à esquerda de uma, mulher, a não ter caráter nenhum representativo, não pode ser um herói. E que viria fazer a Portugal? Viria a fazer raça? Para isto em Portugal há muitos capazes de exercitar os trabalhos de Hércules; e não resultando a este Príncipe estrangeiro mais glória do que a de vir ter filhos a Portugal, seria indecoroso para o reino, e até para ele mesmo tal casamento.”
Outros Deputados não concordam com a emenda apresentada. Correia de Seabra diz mesmo que o casamento com um estrangeiro pode ser útil e conveniente, estando sempre salvaguardada a sua aprovação. Utiliza também o argumento de que, em coerência, deveria ser proibido o casamento dos príncipes com estrangeiras, “porque a influência das mulheres não é de tão pouca consideração como se tem suposto”.
Apesar das vozes contrárias, o artigo viria a ser aprovado com as alterações apresentadas, constando como Artigo 145.º da Constituição de 1822:
“Se a sucessão da Coroa cair em fêmea, não poderá esta casar senão com português, precedendo aprovação das Cortes. O marido não terá parte no Governo e somente se chamará rei depois que tiver da Rainha filho ou filha.”
Na sessão de 4 de agosto de 1821 das Cortes Constituintes, as touradas estiveram em debate.
Borges Carneiro apresentou um projeto de lei para a proibição dos espetáculos tauromáquicos, entendidos como contrários “às luzes do século, e à natureza humana”. Em causa, estava um entretenimento baseado no sofrimento dos animais, criados para servir o homem, mas não para serem martirizados.
“Os homens não devem combater com os brutos, e é horroroso estar martirizando o animal, cravando-lhe farpas, fazendo-lhe mil feridas, e queimando-lhe estas com fogo: tão bárbaro espetáculo não é digno de nós, nem da nossa civilização.”
Também o Deputado Teixeira Girão classifica as touradas como um” bárbaro divertimento”, uma “tolice em expor a vida sem fim útil, sem necessidade, uma “traição em inutilizar aos touros as armas que lhes deu a natureza” e uma “crueldade e cobardia em atormentá-los depois”.
Em sentido contrário, vários Deputados argumentam com a tradição e popularidade do espetáculo, mas também pela existência de outros costumes que agridem os animais, como a caça ou, noutros países as “carreiras de cavalos e o combate dos galos”. Referindo-se ao projeto de lei de Borges Carneiro, Lemos Bettencourt afirma:
“Admira-me, como levado de tão filosóficas tenções, não incluiu no mesmo projeto a proibição da caça, pois sendo todos os animais e aves entes sensitivos, não deviam ser objeto de divertimento do homem; e não devia o caçador matar a ave inocente”.
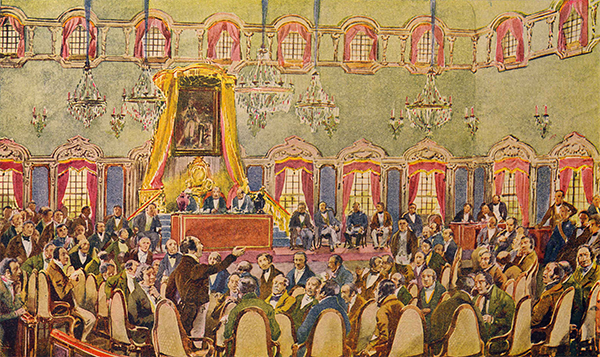
As Cortes Constituintes de 1820, por Roque Gameiro (in "Quadros da História de Portugal", 1917).
Outros Deputados entendem que a sociedade portuguesa não está ainda preparada para a decisão de extinguir as corridas de touros. Assim pensa Serpa Machado, que defende ainda a diminuição da barbaridade do espetáculo e a abolição dos “touros de morte”:
“Eu não seria de opinião que desde já fossem proibidas as festas de touros, porque ainda não é tempo; é necessário ir preparando os costumes. Entretanto apoio que o projeto vá à discussão, não para se abolir esse espetáculo, senão para diminuir a sua barbaridade. Vamos por ora preparando os costumes, que lá virá tempo em que ele caia por si mesmo.”
Manuel Fernandes Tomás, confessando ser “amigo deste divertimento” e espetador semanal de touradas, refere que não se pode, de repente, transformar o país numa “Nação de filósofos”, sendo necessário preparar a sociedade:
“Para extinguir-se aqui este espetáculo, é preciso que os costumes se vão preparando, querer de repente reduzir uma Nação a Nação de filósofos não me parece correto, nem sensato; este costume há de acabar entre nós, quando se extinguir na Espanha. Eu o declaro francamente, sou amigo deste divertimento; não é por ser valoroso, nem deixar de o ser, nem querer que os outros o sejam, senão porque fui criado com isso. Na teoria sou dos mesmos sentimentos filantrópicos; mas na prática não posso. Confesso a minha fraqueza: vou ver os touros todos os domingos. Eu não pugnarei porque os haja; mas tão pouco me oporei diretamente a que deixe de havê-los."
O projeto de lei de Borges Carneiro para a extinção das touradas seria rejeitado.
No dia 7 de março de 1821, Ângelo Ramon Marti, o “Taquígrafo-Mor das Cortes”, apresenta ao Parlamento uma exposição sobre as causas dos problemas detetados nas atas das sessões das Cortes, nomeadamente na inexatidão dos discursos e na ausência de ordem na sua colocação no Diário.

Pintura de Veloso Salgado representando as Cortes Constituintes de 1821.
O taquígrafo apresenta as seguintes razões para as falhas do Diário das Cortes.
Em primeiro lugar, considera que “o zelo do bem comum”, “as boas intenções dos Representantes da Nação” e “o imenso cabedal de suas ideias” faz às vezes com que os Deputados falem com muita rapidez ou não deixam acabar o discurso de um orador, para lhe responder”.
Assim, a taquigrafia 1 não é capaz de acompanhar o discurso oral, pois “a mão não é composta de articulações da mesma flexibilidade, que as da língua”.
Em segundo lugar, refere a Sala da Biblioteca do Convento das Necessidades como desadequada para a função parlamentar, “sendo uma meia elipse onde estão sentados os senhores Deputados e um retângulo onde a voz se espalha, perdendo-se nos seus ângulos”. Esta configuração impede que os Deputados se consigam ouvir pelo taquígrafo, pelos espetadores e mesmo pelos outros Deputados. Ângelo Ramon Marti justifica assim os lapsos nos discursos: “ninguém pode escrever o que não ouve”.
De seguida, refere outras questões “não menores”, como a falta de pessoal e de condições na Secretaria do Diário, onde “não tem havido mais que um taquígrafo”, com a ajuda de seis discípulos com “ordenados mesquinhos”, doze horas de trabalho e “esperanças tão incertas de melhores”.
O Regulamento da Redação das Atas e dos Discursos das Sessões proposto pelo taquígrafo ao Parlamento tem por base o exemplo de Espanha:
“Doze são os taquígrafos (…) que em Espanha (…) servem na Secretaria do Diário, (…) divididos em três turnos, não só para que descansem dois dias cada turno (coisa indispensável, por que é um trabalho físico-intelectual com que não pode diariamente ninguém, por muito robusto que seja, chegar a resistir um ano), não só por isto, digo, senão por ter tempo para fazer copiar todas as suas notas nestes dois dias de descanso. Há Redatores que assistem, além dos taquígrafos, passam, se é necessário, às mãos dos Deputados, para que as vejam, pois que o mais eloquente Orador não pode deixar de cometer alguns erros de linguagem, coordenação de ideias etc., no fogo da locução.”
Apesar de terem sido admitidos mais taquígrafos, conforme o “regulamento provisório do estabelecimento da redação”, as críticas mantêm-se, de que é exemplo a intervenção do Deputado Rodrigo Ferreira, no dia 10 de junho de 1822:
“Sr. Presidente: A Comissão da Redação de Diário das Cortes vê-se obrigada a declarar ao soberano Congresso que o estabelecimento da taquigrafia marcha muito mal. Há mais de um mês que a Comissão lhe prescreveu a regulação de seus trabalhos, repartindo os taquígrafos todos em quatro turnos, e dando-lhes tempo para aprontarem os extratos de suas notas, com todo o descanso. Apesar disso, alguns dos taquígrafos menores não cumprem suas obrigações, cometendo muitas faltas, tardanças e negligências. Têm sido advertidos e continuam sem emenda. A Comissão está resolvida a castigar os omissos, fazendo descontar-lhes parte de seu ordenado nas folhas do pagamento mensal.”
O Parlamento português abandonou a taquigrafia nos anos 60 do século XX, adotando-se como metodologia a gravação e transcrição integral das sessões plenárias.
1 - A taquigrafia ou estenografia é um sistema muito rápido de escrita com recurso a abreviaturas especiais.
Os Deputados que tomaram assento nas Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa, em janeiro de 1821, prestaram juramento e, depois de ouvirem o Relatório do estado público de Portugal, elaborado por Fernandes Tomás, dedicaram-se, nos meses que se seguiram, à elaboração da Constituição e ao debate de diversos projetos estruturantes visando a reforma do país, como a concessão da amnistia aos presos políticos, a lei da liberdade de imprensa, a reforma judiciária ou a abolição da Inquisição.
Mas entre os trabalhos parlamentares, tiveram também de se ocupar de outras questões mais práticas, como a elaboração de um regimento, a contratação de taquígrafos, a fixação de salários e ajudas de custo, e também dos uniformes que eles e outros usariam.

Reprodução da pintura "O juramento político de El-Rei D. João VI ao chegar a Lisboa de regresso do Brasil, em 1822", de Columbano Bordalo Pinheiro, Arquivo Histórico Parlamentar.
Assim, antes de aprovarem o cerimonial para a receção do Rei D. João VI, no dia 30 de maio de 1821 os Deputados discutem como se irão apresentar no dia da vinda do rei às Cortes. Há quem considere que não deverá haver mais ostentação nesse dia do que no dia da instalação das Cortes:
“O Sr. Pimentel Maldonado - O dia em que El-Rei entrar aqui é dia de grande respeito, e de grande glória, porém não mais respeitável, nem mais glorioso que o dia da instalação das Cortes, e o do juramento das Bases [da Constituição]. Não há, pois, razão para haver etiquetas de acatamento maior; estas sedas, de que se fala, o indicarão, e nos trairão. Sem este vão luxo se verificou em nós a Representação Nacional, sem ele será recebido El-Rei dignissimamente.
(Apoiado, apoiado.)
O Sr. Trigoso - Não se trata de que tal dia seja maior nem menor, trata-se da etiqueta. Toda a Corte que aqui vier se achará vestida de seda, e não parece bem que nós não estejamos vestidos do mesmo modo, com tanto que seja das Fábricas Nacionais.
(…)
O Sr. Freire - Seria melhor determinar um uniforme geral, para o futuro, e então já não havia nada de que tratar acerca disto.
(Apoiado, apoiado.)
O Sr. Soares Franco - Mas este uniforme deveria ser de um modo para o Verão, e de outro para o Inverno.
O Sr. Presidente - Eu creio que aqueles que têm um uniforme que lhes é próprio devem assistir com ele.
O Sr. Braamcamp - A mim me parece que a prática que cada um venha com o seu e que o uniforme que aqui se adotar não seja senão para os que não tenham nenhum.
(…)
O Sr. Presidente - Então fica sendo uniforme dos Deputados, que o não tem, vestido sério das Fábricas Nacionais.
O Sr. Santos - Agora é preciso saber o que é vestido sério?
O Sr. Pimentel Maldonado - Parece-me que vestido sério, e mais sério que este vestido preto que usamos, não pode haver.
O Sr. Presidente - Julgo escusado continuar discussão sobre isto, parece-me que já está bastante indicado.
O Sr. Soares Franco - Mas é necessário saber, de que cor, e de que classe há de ser, para virem todos uniformes.
O Sr. Presidente - Negro de seda no verão e de lã no Inverno.
O Sr. Brito - Eu não apoio a seda, porque não dá mais que constipações; seria melhor de pano. Quase todos os Deputados são valetudinários, e julgando por mim, eu quando visto uma casaca que não seja de pano, já começo a sentir as dores reumáticas.
O Sr. Baeta - Para o que verdadeiramente não acho razão é para que sejam as casacas direitas. Eu não sei que influi na seriedade ter as abas da casaca mais pequenas, ou mais grandes.
(Apoiado, apoiado.)
O Sr. Pereira do Carmo - Vejo tratar esta questão do uniforme com bastante ligeireza, dando-se-lhe muito menos importância do que lhe davam os antigos Povos, e até do que lhe dava um filósofo moderno, Jean-Jacques Rosseau, que nunca foi tachado de servilismo. Diz ele, em alguma parte do seu Contrato Social, que não desprezemos uma certa decoração pública, que seja nobre e decente, porque se não pode crer até que ponto o coração do Povo segue os olhos e quanto lhe impõe a majestade do cerimonial. Isto (acrescenta ele) dá à Autoridade um ar de ordem, que inspira confiança, e desvia as ideias de capricho e fantasia, unidos ao poder arbitrário. Eu sigo inteiramente o parecer do filósofo de Genebra.”
Por fim, decidiu-se que o vestido fosse “o chamado de Corte, ou sério” e para regular este vestuário foi nomeada uma Comissão.


Estudos para a pintura “Cortes Constituintes de 1821”, de Veloso Salgado, 1920.
Mas não só os uniformes que deveriam doravante usar os Deputados das Cortes que foram objeto de debate e decisão, também os dos funcionários da Secretaria das Cortes ou os dos generais foram discutidos. Neste caso, a preocupação centrava-se no seu elevado custo:
“O Sr. Barão de Mollelos - Não posso porém deixar de dizer alguma coisa a respeito dos uniformes dos generais: segundo as ordens, são obrigados a terem grande e pequeno uniforme, ambos custam pouco mais ou menos 500$ réis; falo tão somente de chapéu, farda, colete, e calção ou pantalona. Ora, dar a um brigadeiro 360$ réis por ano, e serem obrigados a despenderem só nesta parte do fardamento 500$ réis, é na verdade muito injusto e contraditório.
Quanto aos ministros e membros do corpo diplomático, as Cortes ordenaram ao Ministro Secretário de Estado dos Negócios do Reino, através de uma Indicação aprovada a 10 de dezembro de 1821, que apresentasse um projeto e um padrão para as fardas. A Indicação considerava que urgia a regulação, “não só porque os empregados se acham a caminho para as diversas cortes, mas porque é tempo de cessar o aparelho faustoso, e custoso de vestiduras impostoras, e que chocam a singeleza, que deve respirar em todas as repartições dum país a que preside a liberdade.”
Mais tarde, a 7 de junho de 1822, a Comissão das artes examina os figurinos para os Conselheiros do Estado, que lhe foram remetidos pelo Deputado Martins Basto, que menciona a incongruência que reside no facto de os Conselheiros não terem vestido próprio, ao contrário de todos os ministros e empregados em funções públicas, referindo “que assim ficam isentos de se conformarem aos caprichos da etiqueta e por conseguinte de fazerem maior despesa”. O parecer da Comissão é debatido:
“O Sr. Sarmento - Sou por isso de parecer que o nosso Conselho de Estado apareça nas funções públicas vestido segundo o costume português. Não sei se esse uniforme que se lhe pretende dar é mais elegante e vistoso, para com ele se agradar às senhoras: todavia como o Conselho é composto de homens de idade avançada, e não de meninos que pretendam agradar, por isso eu digo, que ele deve ser ornado de um exterior de seriedade, para inculcar respeito, e representar, até pelo traje, a importância do seu emprego. Deve por isso aparecer vestido à portuguesa nas funções públicas. E quanto às particulares, os Conselheiros têm 6 mil cruzados para gastarem, mandem para o verão vir sedas de Chacim, e para o inverno veludos de Bragança, e saragoças do Alentejo.”
No final, decidiu-se que os Conselheiros de Estado deveriam ter uniforme e foi aprovado o modelo proposto.
Não será necessário repetir as palavras de Jean-Jacques Rousseau para calcular a importância que o uniforme então tinha, e até a repercussão económica e social, mas parte do prestígio de que gozaram os deputados vintistas, conhecidos como “os casacas de briche”, resultou do facto de terem optado por um traje austero da indústria nacional, tendo o seu exemplo sido seguido por muitos cidadãos.
Os deputados eleitos no final de 1820 juraram1 não apenas fazer a Constituição Política, mas também as reformas e melhoramentos que julgavam necessários. Tratando-se do primeiro Parlamento composto por deputados eleitos, foi necessário começar por organizar os trabalhos, aprovar o Regimento, deliberar sobre as comissões e respetiva composição, determinar os vencimentos e despesas devidas aos deputados e oficiais da Corte e conhecer o estado do país.
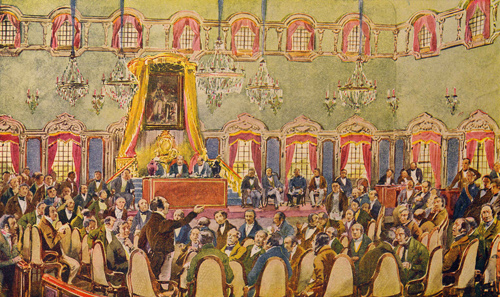
As Cortes Constituintes, por Roque Gameiro (in "Quadros da História de Portugal", 1917).
Podemos imaginar a vontade, o empenho e até a pressa de reformar o país destes deputados, eleitos na sequência da Revolução de 1820, cujos discursos são reproduzidos em quase todos os periódicos2 e que recebem diariamente correspondência de cidadãos, felicitando-os ou apresentando propostas ou requerimentos.
O Relatório do estado público de Portugal, de Fernandes Tomás, lido na sessão do dia 5 de fevereiro de 1821, que de alguma forma marca o início dos trabalhos parlamentares, refere, no capítulo relativo ao Governo, o seguinte:
“Senhores! As leis judiciárias, as administrativas, e numa palavra todas merecem a mais circunspecta e sisuda reforma. Sendo tantas, que é impossível sabê-las, ou ao menos ter notícia delas…3
Não é por isso de surpreender que nessa mesma sessão, antes, portanto, da aprovação das Bases da Constituição, tenham sido apresentados diversos projetos de lei sobre estas matérias, designadamente sobre a liberdade de imprensa, a abolição dos tributos vis, a abertura de prisões (amnistia aos presos), a abolição do Tribunal de Inquisição e a limitação do poder da Polícia.
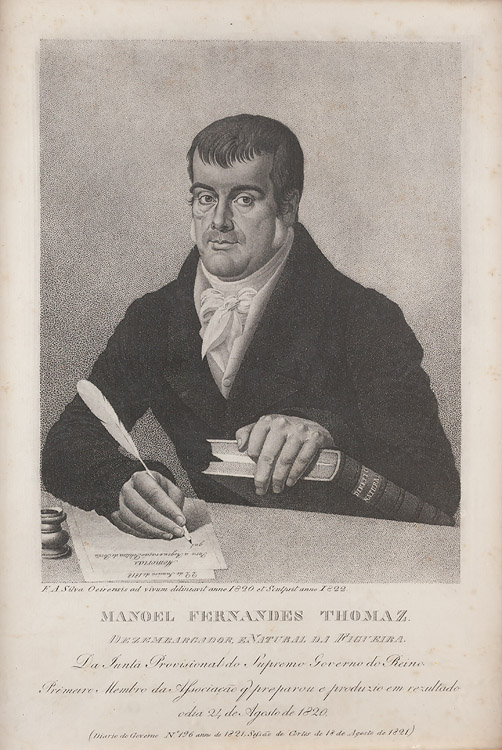
O projeto de abolição do Tribunal de Inquisição é apresentado pelo Deputado Francisco Simões Margiochi que propõe a sua extinção no Reino de Portugal, quase 300 anos depois da sua introdução, como já acontecera nos outros domínios portugueses. Em consequência da extinção, propõe que os seus arquivos sejam remetidos à Sala dos Manuscritos da Biblioteca Pública de Lisboa e que os seus empregados conservem metade dos seus ordenados.
No dia 31 de março de 18214, dia em que é votado e aprovado este projeto de lei, a redação do preâmbulo, que justificava a extinção devido à multiplicidade de tribunais, suscita aceso debate, tendo o Deputado Fernandes Tomás referido o seguinte:
“Não se declare antes razão nenhuma: essa é ofensiva ao decoro, e luzes do século e sentimentos desta Assembleia. Seria ridículo que no Mundo se dissesse que se tinha extinguido a Inquisição porque não se podia sustentar, extingue-se porque não deve existir num país em que há homens livres.”
O texto aprovado tem poucas alterações relativamente ao projeto de lei inicialmente apresentado, sendo que no preâmbulo se refere apenas que é extinta porque a sua existência era contrária ao sistema constitucional, remetendo-se para diploma posterior a fixação dos vencimentos5.
1 - “Juro cumprir fielmente, em execução dos Poderes que me foram dados, as obrigações de Deputado nas Cortes Extraordinárias que vão a fazer a Constituição Politica da Monarquia Portuguesa, e as reformas e melhoramentos, que se julgarem necessários para bem e prosperidade da Nação, mantida a Religião Católica Apostólica Romana, mantido o Trono do Senhor D. João VI, Rei do Reino Unido de Portugal, Brasil, e Algarves, conservada a Dinastia da Sereníssima Casa de Bragança.”
O juramento foi preparado por uma Comissão composta pelos Deputados Manuel Fernandes Tomás, José Ferreira Borges e Francisco Soares Franco e foi unanimemente aprovado na sessão preparatória, realizada a 24 de janeiro de 1821.
2 - “O processo de formação do primeiro movimento liberal: a revolução de 1820”, Isabel Nobre Vargues, In História de Portugal, direção de José Mattoso, 5.º volume.
3 - O Relatório encerra da seguinte forma: “Quando um Governo, Senhores, trata os interesses dos povos pelo modo que tendes ouvido, e que desgraçadamente é muito verdadeiro, fazendo, ou consentindo que se façam males tão grandes, ninguém poderá deixar de confessar que ele é um Governo mau: e em tal caso seria bem admirável, que houvesse ainda quem se lembrasse de disputar à Nação o direito de escolher, ou de fazer outro melhor."
4 - Foi publicada no jornal oficial de 5 de abril de 1821.
5 - Esta questão é debatida no dia 18 de junho de 1821, defendendo o Deputado Ferreira Borges que se “conservem os ordenados, mas não com o título de inquisidores, porque esse nome deve ser riscado dos Dicionários”. Os vencimentos, mesmo depois de fixados, são mencionados em vários debates, até pela injustiça relativa que representam relativamente a outros serviços extintos apesar de compatíveis com o “estado atual das coisas”.